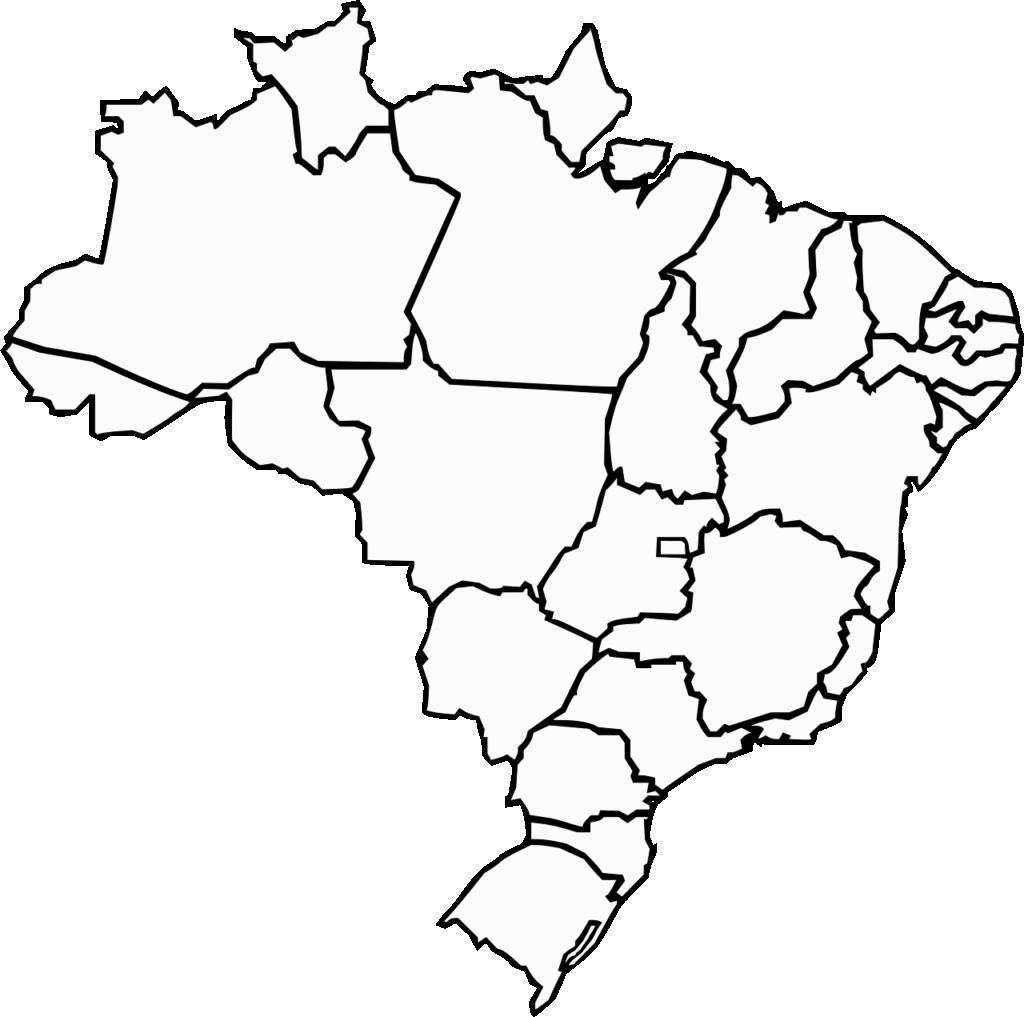
 Por Arlindenor Pedro – Professor de História, Filosofia e Sociologia, editor do Blog, Revista Eletrônica e canal Utopias Pós Capitalistas.
Por Arlindenor Pedro – Professor de História, Filosofia e Sociologia, editor do Blog, Revista Eletrônica e canal Utopias Pós Capitalistas. Por séculos, a economia política buscou responder a uma pergunta decisiva: De onde vem a riqueza das nações?. Essa indagação não surgiu no vazio. Com o capitalismo nascente, o crescimento contínuo da produção e a circulação ampliada de mercadorias se tornaram experiências inéditas, exigindo uma explicação que desse conta da novidade histórica.
Nas sociedades pré-capitalistas, a riqueza tinha outro significado. No feudalismo, a posse da terra e o poder de tributar camponeses determinavam a hierarquia social. Nos impérios da Antiguidade, a riqueza derivava de saques militares, conquistas e tributos. Nas cidades medievais, mesmo com o florescimento do comércio, as trocas permaneciam subordinadas a vínculos de parentesco, religião e tradição. Em todos esses casos, a produção estava voltada ao uso, à subsistência e à manutenção de ordens sociais estáveis. A lógica da acumulação abstrata, ilimitada, simplesmente não existia.
O capitalismo rompe esse horizonte ao transformar o trabalho humano em trabalho abstrato, reduzido a tempo social médio e cristalizado nas mercadorias como valor. Surge, assim, uma forma de riqueza inédita, fundada não no uso, mas na valorização incessante. Adam Smith intuiu esse movimento ao localizar no trabalho humano, e especialmente em sua divisão técnica, a fonte da riqueza social. David Ricardo consolidaria esse raciocínio, mas sem questionar sua historicidade, tratando o trabalho como essência natural e universal.
É nesse ponto que Marx introduz sua ruptura — ainda que de forma gradual. Nos Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844, ele via o trabalho como essência humana alienada. Apenas nos anos 1850, em diálogo crítico com a economia política clássica, amadurece a noção de que o trabalho no capitalismo não é mera atividade produtiva, mas uma forma social específica. Essa elaboração alcança maturidade em O Capital (1867), onde Marx distingue trabalho concreto, produtor de valores de uso, e trabalho abstrato, criador de valor. Ao revelar a diferença, Marx mostra que a riqueza capitalista não é simplesmente material, mas um processo social que transforma energia humana em medida abstrata, compulsiva, histórica e, portanto, superável.
O capitalismo rompe esse horizonte ao transformar o trabalho humano em trabalho abstrato, reduzido a tempo social médio e cristalizado nas mercadorias como valor. Surge, assim, uma forma de riqueza inédita, fundada não no uso, mas na valorização incessante. Adam Smith intuiu esse movimento ao localizar no trabalho humano, e especialmente em sua divisão técnica, a fonte da riqueza social. David Ricardo consolidaria esse raciocínio, mas sem questionar sua historicidade, tratando o trabalho como essência natural e universal.
É nesse ponto que Marx introduz sua ruptura — ainda que de forma gradual. Nos Manuscritos Econômico-Filosóficos de 1844, ele via o trabalho como essência humana alienada. Apenas nos anos 1850, em diálogo crítico com a economia política clássica, amadurece a noção de que o trabalho no capitalismo não é mera atividade produtiva, mas uma forma social específica. Essa elaboração alcança maturidade em O Capital (1867), onde Marx distingue trabalho concreto, produtor de valores de uso, e trabalho abstrato, criador de valor. Ao revelar a diferença, Marx mostra que a riqueza capitalista não é simplesmente material, mas um processo social que transforma energia humana em medida abstrata, compulsiva, histórica e, portanto, superável.
O segredo da acumulação está na mais-valia: A diferença entre o valor produzido pelo trabalhador e o salário pago, apropriada pelo capitalista. A exploração não é acidente, mas núcleo da riqueza moderna. Marx, assim, distingue entre riqueza material concreta — sempre presente em todas as sociedades humanas — e riqueza abstrata, o valor, que é peculiar do capitalismo.
Mas a história não parou no século XIX. Robert Kurz, retomando Marx, mostrou que a lógica do valor entrou em colapso no final do século XX. A automação e a revolução tecnológica reduziram drasticamente a necessidade de trabalho vivo, mas apenas o trabalho vivo produz valor. Quanto mais produtiva a sociedade, mais frágil o fundamento da riqueza capitalista. Para se manter, o sistema se apoia em crédito, especulação e dívida, criando montanhas de capital fictício que já não correspondem ao valor efetivamente produzido. É nesse cenário que emerge a categoria de “dinheiro sem valor”: uma forma monetária que circula como pura ficção, sustentada por simulações financeiras que mascaram a crise estrutural.
A crítica de Kurz, porém, vai além da economia. Ele desvela que categorias como trabalho, mercadoria, Estado e dinheiro não são neutras, mas fetiches históricos que organizam a dominação social. O trabalho, exaltado pelo socialismo clássico, aparece como forma abstrata e compulsiva, nada emancipadora. O Estado, longe de representar o povo, é gestor da forma-valor, garantindo a circulação da mercadoria e a reprodução do capital. A mercadoria, aparentemente banal, é a célula do fetichismo social. O dinheiro, descolado do valor, torna-se simulacro supremo. Em diálogo com Roswitha Scholz, Kurz incorpora ainda a crítica da dissociação-valor: o capitalismo não só universaliza o trabalho abstrato, mas dissocia e subordina atividades vitais — cuidado, afetos, educação — ao feminino, mantendo-as invisíveis e desvalorizadas. O patriarcalismo, assim, é parte estrutural do sistema.
Esse diagnóstico conduz a uma conclusão incontornável: A economia contemporânea já não é a da riqueza das nações, mas a do dinheiro sem valor. Um sistema autofágico que sobrevive por meio de simulações financeiras, destruição ambiental e expropriação dos últimos recursos sociais e naturais. A promessa de progresso transformou-se em ameaça global.
É nesse contexto que o Brasil se encontra em encruzilhada. Durante décadas, buscou-se seguir o roteiro do desenvolvimento dependente, ora pela industrialização tardia, ora pelo extrativismo exportador, ora pela financeirização que marcou os anos recentes. Hoje, esse caminho mostra-se exaurido: a indústria desmontada, o agronegócio avançando como devastação ecológica, a financeirização corroendo a vida social. As elites políticas, presas a horizontes estreitos, não apresentam alternativas inovadoras, apenas reciclamentos do mesmo modelo falido. A polarização que ocupa o espaço público é, em grande medida, expressão dessa falta de rumo: projetos distintos que, no entanto, permanecem cativos dos mesmos limites da forma-valor.
Entretanto, o país possui pontos positivos que podem alimentar um caminho diferente. A enorme diversidade cultural, com seus modos de vida comunitários e tradições de solidariedade, guarda experiências de convivência não subordinadas inteiramente ao mercado. A imensa biodiversidade e a riqueza ambiental podem ser base de um outro tipo de relação com a natureza, se preservadas. A criatividade popular, a capacidade de improvisar e transformar precariedade em arte e expressão coletiva, constitui recurso vital para imaginar novas formas de viver. E, sobretudo, nas periferias urbanas, quilombos, aldeias e comunidades ribeirinhas, resistem práticas concretas de cuidado, partilha de tempo e produção voltada ao uso, capazes de inspirar alternativas à lógica destrutiva do capital.
É hora de reconhecer que não há saída dentro dos velhos parâmetros. O Brasil precisa superar este momento de divisão e paralisia, resultado de elites que se revelaram incapazes de ousar além do capitalismo. A tarefa histórica que se impõe é pensar novos caminhos. Esses caminhos podem se expressar nas artes, que abrem a imaginação para além das grades da mercadoria; nas universidades, onde o pensamento crítico pode revelar as raízes da crise e projetar horizontes diferentes; em colóquios e encontros, nos quais ativistas e intelectuais compartilham experiências e constroem alternativas; e, sobretudo, nas práticas concretas de comunidades que já vivem, em suas margens, formas de resistência e solidariedade que apontam para o pós-capitalismo.
O que hoje aparece como ameaça global pode se converter em abertura histórica. A oportunidade está em reinventar o sentido de riqueza: Não mais o acúmulo abstrato de dinheiro, mas a riqueza concreta da vida, da natureza, do cuidado e da liberdade. O Brasil, com todas as contradições que carrega, pode ser também o território onde se ensaiam esses novos caminhos. A escolha está diante de nós: Continuar na trilha do dinheiro sem valor ou assumir a tarefa de reinventar o futuro.
Mas a história não parou no século XIX. Robert Kurz, retomando Marx, mostrou que a lógica do valor entrou em colapso no final do século XX. A automação e a revolução tecnológica reduziram drasticamente a necessidade de trabalho vivo, mas apenas o trabalho vivo produz valor. Quanto mais produtiva a sociedade, mais frágil o fundamento da riqueza capitalista. Para se manter, o sistema se apoia em crédito, especulação e dívida, criando montanhas de capital fictício que já não correspondem ao valor efetivamente produzido. É nesse cenário que emerge a categoria de “dinheiro sem valor”: uma forma monetária que circula como pura ficção, sustentada por simulações financeiras que mascaram a crise estrutural.
A crítica de Kurz, porém, vai além da economia. Ele desvela que categorias como trabalho, mercadoria, Estado e dinheiro não são neutras, mas fetiches históricos que organizam a dominação social. O trabalho, exaltado pelo socialismo clássico, aparece como forma abstrata e compulsiva, nada emancipadora. O Estado, longe de representar o povo, é gestor da forma-valor, garantindo a circulação da mercadoria e a reprodução do capital. A mercadoria, aparentemente banal, é a célula do fetichismo social. O dinheiro, descolado do valor, torna-se simulacro supremo. Em diálogo com Roswitha Scholz, Kurz incorpora ainda a crítica da dissociação-valor: o capitalismo não só universaliza o trabalho abstrato, mas dissocia e subordina atividades vitais — cuidado, afetos, educação — ao feminino, mantendo-as invisíveis e desvalorizadas. O patriarcalismo, assim, é parte estrutural do sistema.
Esse diagnóstico conduz a uma conclusão incontornável: A economia contemporânea já não é a da riqueza das nações, mas a do dinheiro sem valor. Um sistema autofágico que sobrevive por meio de simulações financeiras, destruição ambiental e expropriação dos últimos recursos sociais e naturais. A promessa de progresso transformou-se em ameaça global.
É nesse contexto que o Brasil se encontra em encruzilhada. Durante décadas, buscou-se seguir o roteiro do desenvolvimento dependente, ora pela industrialização tardia, ora pelo extrativismo exportador, ora pela financeirização que marcou os anos recentes. Hoje, esse caminho mostra-se exaurido: a indústria desmontada, o agronegócio avançando como devastação ecológica, a financeirização corroendo a vida social. As elites políticas, presas a horizontes estreitos, não apresentam alternativas inovadoras, apenas reciclamentos do mesmo modelo falido. A polarização que ocupa o espaço público é, em grande medida, expressão dessa falta de rumo: projetos distintos que, no entanto, permanecem cativos dos mesmos limites da forma-valor.
Entretanto, o país possui pontos positivos que podem alimentar um caminho diferente. A enorme diversidade cultural, com seus modos de vida comunitários e tradições de solidariedade, guarda experiências de convivência não subordinadas inteiramente ao mercado. A imensa biodiversidade e a riqueza ambiental podem ser base de um outro tipo de relação com a natureza, se preservadas. A criatividade popular, a capacidade de improvisar e transformar precariedade em arte e expressão coletiva, constitui recurso vital para imaginar novas formas de viver. E, sobretudo, nas periferias urbanas, quilombos, aldeias e comunidades ribeirinhas, resistem práticas concretas de cuidado, partilha de tempo e produção voltada ao uso, capazes de inspirar alternativas à lógica destrutiva do capital.
É hora de reconhecer que não há saída dentro dos velhos parâmetros. O Brasil precisa superar este momento de divisão e paralisia, resultado de elites que se revelaram incapazes de ousar além do capitalismo. A tarefa histórica que se impõe é pensar novos caminhos. Esses caminhos podem se expressar nas artes, que abrem a imaginação para além das grades da mercadoria; nas universidades, onde o pensamento crítico pode revelar as raízes da crise e projetar horizontes diferentes; em colóquios e encontros, nos quais ativistas e intelectuais compartilham experiências e constroem alternativas; e, sobretudo, nas práticas concretas de comunidades que já vivem, em suas margens, formas de resistência e solidariedade que apontam para o pós-capitalismo.
O que hoje aparece como ameaça global pode se converter em abertura histórica. A oportunidade está em reinventar o sentido de riqueza: Não mais o acúmulo abstrato de dinheiro, mas a riqueza concreta da vida, da natureza, do cuidado e da liberdade. O Brasil, com todas as contradições que carrega, pode ser também o território onde se ensaiam esses novos caminhos. A escolha está diante de nós: Continuar na trilha do dinheiro sem valor ou assumir a tarefa de reinventar o futuro.






