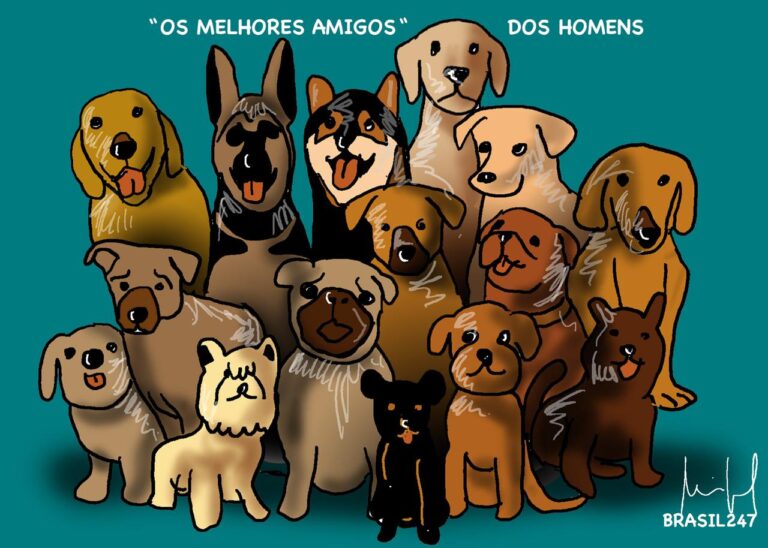A minha entrevistada de hoje foi a primeira mulher a assumir o Ministério da Saúde. E de lá saiu no inicio desse ano, aplaudida de pé. Nísia Trindade iniciou resgate do SUS após devastação bolsonarista e lançou políticas inovadoras. Nísia Trindade é uma sanitarista, cientista social, socióloga, pesquisadora e professora universitária brasileira. Foi ministra da Saúde do Brasil no governo Lula III entre 2023 e 2025 e presidente da Fundação Oswaldo Cruz entre 2017 e 2022. Em nossa entrevista falamos sobre sua gestão como presidente da Fiocruz durante a pandemia, de seu período no Ministério da Saúde, sobre a importância da vacinação e muito mais. Confira!
JP – Olá, Nísia! Após um período em que você esteve como presidente da Fiocruz e, a seguir, como ministra da Saúde, você retorna às suas atividades como pesquisadora. Quais são as atividades e os projetos que você irá realizar?
Retomei minhas atividades acadêmicas e de pesquisa na Fiocruz, onde pretendo aprofundar temas que sempre foram centrais na minha trajetória: políticas de saúde, ciência e tecnologia e desigualdades sociais. Além disso, sou uma das três pessoas, referências em suas áreas, convidadas para integrar a Cátedra Olavo Setubal – Transversalidades: Arte, Cultura, Ciência e Educação, vinculada ao Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP). Ao lado de Fernando Almeida, educador, filósofo e gestor à frente da implantação dos Centros Educacionais Unificados (CEUs), em São Paulo, e Alemberg Quindins, artista e criador do Museu do Homem do Cariri e da rede de Museus Orgânicos, no Ceará, definimos nosso eixo de atuação: “Territórios: Diversidades, Desigualdades e Aprendizados Sociais”. Essa é uma oportunidade de pôr em diálogo diferentes áreas do conhecimento e pensar estratégias que integrem transversalmente ciência, educação, arte, desenvolvimento e justiça social, para um projeto de país que emane de iniciativas nos territórios e permita sua integração.
Também sou membra do Conselho Global sobre Desigualdades, AIDS e Pandemias do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (UNAIDS), no qual atuo em discussões internacionais sobre acesso a medicamentos, vacinas e outros bens de saúde, de forma que respeite a equidade e nos prepare para respostas mais eficientes a novas pandemias e outras emergências de saúde. Sigo atuando na construção de pontes entre instituições brasileiras e organismos multilaterais, tendo como frentes concretas o fortalecimento de instrumentos como o Acordo sobre Pandemais, recém-aprovado na Organização Mundial a Saúde (OMS), e a Coalização para a Inovação e Produção Local e Regional de vacinas, medicamentos, testes diagnósticos e outros bens de saúde, no âmbito do G20. Essas questões foram discutidas na última Assembleia Mundial da Saúde, da qual pude participar a convite do Ministério da Saúde, dando continuidade aos diálogos estabelecidos em minha gestão.
Trabalhar a memória da pandemia também tem sido uma tarefa que tenho me proposto. O sociólogo Klaus Eder afirma em seus textos acadêmicos que as sociedades aprendem, mas que o mundo é difícil de mudar. Falta-nos entender melhor o que representou a pandemia e quais ações essa experiência traumática nos insta a realizar, no sentido de uma transformação social que reduza nossa vulnerabilidade a novas emergências. Estou escrevendo um livro e organizando um projeto para uma exposição que reúnam diferentes experiências da sociedade civil durante a pandemia e mobilizem essa reflexão para que contribuam com essa transformação tão necessária.
JP – Você foi presidente da Fiocruz durante a pandemia. Quais foram os maiores desafios que enfrentou?
A pandemia foi um dos momentos mais desafiadores da história recente da humanidade. No caso do Brasil, a gestão da resposta à pandemia pelo Governo Federal encontra-se entre as piores do mundo. Tendo o país 2,7% da população mundial, tivemos 10,8% das mortes por covid-19, um percentual quatro vezes maior, a despeito do SUS, de iniciativas da sociedade civil, dos movimentos sociais e de instituições como as universidades e institutos de ciência e tecnologia, a exemplo do Instituto Butantan e da Fiocruz.
A Fiocruz teve um papel estratégico nesse processo, que foi além de sua missão e mesmo além da entrega que se tornou mais visível: a produção em Biomanguinhos da vacina para Covid 19, a partir de encomenda tecnológica e posterior transferência de tecnologia da farmacêutica Astrazenica para a Fiocruz. Como presidente da instituição nesse período, busquei coordenar uma resposta que mobilizasse a competência de cada uma de nossas unidades para potencializar o que a Fiocruz faz de melhor em favor de nossa população. Um dos maiores desafios foi a descoordenação do governo federal à época. Enfrentamos um cenário de negacionismo e desmonte das políticas públicas, no qual tivemos que assumir responsabilidades que, em condições normais, seriam do Ministério da Saúde. Foi o caso das reuniões diretas com governadores e prefeitos, a logística de distribuição de vacinas, de testes diagnósticos e equipamentos, além da iniciativa para a produção desses insumos, que envolveu a transferência de tecnologia para a vacina nacional contra a Covid-19.
A produção da vacina foi um capítulo à parte. Optamos pela transferência de tecnologia da AstraZeneca, o que permitiu que o Brasil tivesse autonomia na fabricação de doses e o domínio de uma nova plataforma tecnológica, de m-RNA, que nos permitirá avançar em outras áreas. Adaptamos linhas de produção em tempo recorde, capacitamos profissionais e garantimos que o país não ficasse totalmente dependente de importações do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA). Paralelamente, por meio do Observatório da Covid-19, elaboramos boletins semanais com a evolução da doença e a resposta a ela, ao mesmo tempo em que enfrentamos a desinformação e as campanhas antivacina, que custaram vidas e dificultam até hoje a adesão da população. Outro desafio foi a construção do Centro Hospitalar para a Covid-19, no campus Manguinhos da Fiocruz, no Rio de Janeiro. A obra do hospital foi concluída em menos de dois meses, ainda em maio de 2020, um tempo recorde, e se tornou uma referência no atendimento a casos graves, com capacidade hoje de 195 leitos de tratamento intensivo e semi-intensivo. É um dos legados para tratamento especializado de doenças infecciosas que ficou para o SUS.
Apesar de todas as dificuldades, a pandemia também mostrou a força da sociedade civil brasileira e de nossas instituições. Um dos exemplos dessa sinergia foi nossa parceria com a ONG Redes da Maré, que nos procurou no início da pandemia, e com a qual tivemos uma série de iniciativas de enfrentamento à pandemia nas comunidades próximas à Fiocruz, desde ações de prevenção, comunicação, alimentação, diagnóstico, telessaúde até a vacinação.
JP – Como ministra da Saúde, você enfrentou diversos desafios. Como assumiu o SUS e quais medidas tomou para o sistema voltar a funcionar de forma plena?
Quando assumi o Ministério da Saúde, encontramos um SUS profundamente fragilizado, após o desmonte de políticas públicas desde 2016 e a terrível experiência das 700 mil mortes por covid-19 no governo passado. Vimos problemas graves, como mais de 4.500 unidades básicas de saúde que aguardavam credenciamento havia quatro anos, mais de 4 mil obras paralisadas, a desassistência do povo Yanomami e a queda na cobertura vacinal. Nosso primeiro objetivo foi restabelecer o papel coordenador do Ministério da Saúde, retomando o diálogo com estados e município por meio da Comissão Intergestores Tripartite (CIT). Também retomamos a participação social no SUS, revalorizando o Conselho Nacional de Saúde. No âmbito internacional, não apenas resgatamos a credibilidade do país, mas o colocamos como protagonista, sobretudo na Presidência do G20 e em iniciativas como a proposição e aprovação da Coalização pela Produção e Inovação Regional e Local de vacinas, medicamentos e outros insumos.
No plano nacional, conseguimos já no primeiro ano cumprir a quase totalidade dos objetivos apresentados no Programa de Governo Lula-Alckmin, além das recomendações da equipe de transição que tive a honra de integrar. Reativamos programas estratégicos, como o Farmácia Popular, que ampliou a oferta de ítens e a gratuidade de todos os medicamentos ofertados, o Mais Médicos, que quase dobrou o número de profissionais, saindo de 13 mil para 25 mil, e o Brasil Sorridente, pelo qual criamos mais de 4,5 mil novas equipes em dois anos, um ritmo seis vezes maior que a média do governo anterior. Além da retomada e do aprimoramento desses programas consagrados, também buscamos avançar em sua universalização, para que se fizessem presentes em todo o país: mais de 31 mil farmácias foram credenciadas, e mais de 2 mil novas ambulâncias do Samu foram entregues, volume também seis vezes maior que o registrado entre 2019 e 2022, entre outras ações. Na atenção de média e alta complexidade, pudemos em 2024 realizar, pelo SUS, o maior número de cirurgias de nossa história, cerca de 14 milhões. Além disso, enfrentamos emergências graves, como a crise humanitária no território Yanomami, as enchentes no Rio Grande do Sul, secas na Amazônia e a maior epidemia de dengue da história, resultado tanto do impacto das mudanças climáticas, após os dois anos mais quentes já registrados (2023 e 2024), quanto da descontinuidade de ações de vigilância e controle de vetores, os quais foram reestabelecidos desde 2023, acrescidos de programas inovadores para a progressiva eliminação da dengue como problema de saúde pública, que requer ações intersetoriais: saneamento, políticas urbanas, entre outras. Além disso retomamos, com ênfase na inovação, as ações do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, com o objetivo de, em dez anos, conquistar 70% de produção nacional nas áreas de biofármacos, vacinas, medicamentos e equipamentos. Na área da infraestrutura, retomamos mais de mil obras paralisadas, entre Unidades Básicas de Saúde, maternidades e Unidades de Pronto Atendimento.
A reconstrução do Programa Nacional de Imunizações (PNI) foi outra frente essencial. Estávamos com coberturas vacinais alarmantes, com os menores índices em 20 anos, o que representava um risco iminente de retorno de doenças já controladas. Em dois anos, alcançamos a certificação pela Opas/OMS da eliminação do sarampo e revertemos a tendência de queda nas coberturas, com aumento em 15 de 16 vacinas do calendário infantil, superando as metas em três delas. Os desafios são permanentes: temos que manter esses índices elevados, combater a desinformação e preparar o país para antecipar novos riscos.
JP – Você também retomou de forma intensa a política de vacinação. No seu ponto de vista, o que é necessário para conscientizar a população sobre a importância da vacinação?
A política de vacinação representa um dos maiores orgulhos do SUS. No entanto, a hesitação vacinal e o negacionismo crescentes têm dificultado a adesão à vacinação. Uma das frentes de atuação é reforçar campanhas de comunicação baseadas em evidências científicas que resgatem a história de sucesso do Programa Nacional de Imunizações (PNI), mostrando como a vacinação erradicou a varíola no mundo e eliminou a poliomielite no país. Em nossa gestão, também voltamos a eliminar o sarampo. Essa memória é uma aliada indispensável, trazendo para a defesa da vacina as gerações que conviveram com os males provocados pela poliomielite, por exemplo. Outra frente de grande importância é a regulação das redes sociais, caminho que vem sendo trilhado pelas instituições brasileiras. Vimos na pandemia que discursos desinformativos podem matar. Nos últimos anos, também se revelou, nas redes sociais, todo um canal subterrâeno de comunicação que expõe nossa juventude a desafios macabros, como a inalação de substâncias tóxicas e ataques a escolas. Não podemos tolerar discursos que matam e que põem em risco a saúde pública, os direitos de nossas crianças e a própria democracia.
É preciso, finalmente, fortalecer a presença do SUS nos territórios e a confiança da população nas ações do Estado. Não basta à saúde e à ciência serem potencialmente eficientes, elas precisam se fazer presentes no dia-a-dia das pessoas, mostrando como contribuem na luta diária por uma vida melhor. Fortalecer equipes de Saúde da Família, capacitando especialmente os agentes de saúde para atuarem como multiplicadores de informação qualificada, disponibilizar informações transparentes e estabelecer parcerias estratégicas com conselhos profissionais, associações científicas e influenciadores foram iniciativas que tivemos. Confiança não é algo que se reconstrói da noite para o dia. Isso requer tempo e continuidade, além de governos que sejam reconhecidos pelas pessoas por seu compromisso com avanços sociais.
JP – Como foi o processo de produção da vacina da Covid, em especial a da AstraZeneca?
Esse foi um marco na história da saúde pública nacional, em que a a Fiocruz atuou em duas etapas: o acordo de Encomenda Tecnológica (ETEC), em setembro de 2020, para assegurar a importação do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA); e o acordo de Transferência Tecnológica, em junho de 2021, que garantiu a produção nacional do IFA, elemento que faltava para a vacina 100% nacional. A implementação ocorreu em tempo recorde, com adaptações industriais complexas sendo realizadas em poucos meses. A Fiocruz estabeleceu uma ampla rede de colaboração envolvendo múltiplos atores – desde o parlamento, órgãos governamentais, Anvisa – até instituições científicas e a sociedade civil. Esse esforço coletivo permitiu que, já em janeiro de 2021, as primeiras doses fossem enviadas para abastecer o PNI. Só no ano de 2021, foram mais de 150 milhões de doses entregues.
A vacina desenvolvida destacou-se não apenas pela eficácia, mas também por seu custo acessível e foi essencial para a resposta à pandemia naquele momento. Vimos como a terrível curva de mortes e hospitalizações caiu drasticamente após o início da vacinação. A tecnologia de vetor viral adotada representou ainda uma plataforma versátil, passível de adaptação para futuras emergências sanitárias. A experiência reforçou a importância do investimento contínuo em ciência e tecnologia, demonstrando como instituições públicas fortes são essenciais para a autonomia sanitária do país.
JP – Uma das suas medidas foi a municipalização de alguns hospitais federais. Essa medida já havia sido tentada antes (como na estadualização no governo Collor), e houve devolução ao governo federal. Por que retomar essa estratégia?
O Plano de Reestruturação dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro insere-se num plano mais amplo de reorganização da rede do SUS. A experiência histórica nos ensina que o sucesso desse plano depende de alguns elementos fundamentais: um planejamento cuidadoso da transição da gestão, capacitação técnica, integração às redes regionais de saúde e continuidade das políticas e dos investimentos, sem a qual mudanças de gestão levavam sistematicamente a rupturas nos contratos e no financiamento. Com base nesse diagnóstico, implementamos uma pactuação gradual, com base na institucionalidade do SUS e nos apoiando em parcerias com atores estratégico: Grupo Hospitalar Conceição, empresa pública vinculada ao Ministério da Saúde; EBSERH, empresa pública vinculada ao MEC; Fiocruz; e também o estabelecimento de parceria com o município do Rio de Janeiro.
No caso do Hospital de Bonsucesso, o cenário que tínhamos era o de uma emergência fechada desde outubro de 2020, quando o hospital sofreu um incêndio. Decidimos fazer uma parceria com o Grupo Hospitalar Conceição (GHC), empresa pública 100% SUS que já realiza uma gestão de excelência no Rio Grande do Sul. Desde então, foram reabertos 218 leitos, totalizando 423 leitos disponíveis nesse hospital que é referência não só para a cidade, mas para o estado do Rio de Janeiro
No que se refere ao município do Rio de Janeiro, outro grande parceiro, promovemos, em bases sustentáveis, a municipalização do Hospital do Andaraí e do Hospital Cardoso Fontes, com investimentos que permitirão o funcionamento de 700 leitos na soma das duas unidades. Garantimos o financiamento, evitando assim as descontinuidades do passado, oferecemos apoio técnico permanente, com capacitação contínua às equipes municipais, e, principalmente, garantimos que cada hospital funcionasse como referência em uma rede regional devidamente articulada com a atenção primária e outros serviços de saúde. Além disso, criamos, por meio do programa PER-SUS, do MS e com o apoio inestimável do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o serviço de radioterapia no Hospital do Andaraí, antes ausente da rede de hospitais federais, o que considero absurdo se pensarmos nas necessidades da população do município e do estado.
Nos três hospitais citados, já reabrimos as emergências, duas delas após mais de quatro anos fechadas, desafogando as UPAs do município. Essas foram as ações que coordenei na condição de Ministra da Saúde. Dei início também a ações de cooperação entre a Unirio e a Ebserh, com apoio do MS, visando a potencializar os trabalhos de excelência do Hospital Gafrée Guinle e do Hospital dos Servidores. Iniciei ainda as conversas para uma colaboração entre a Fiocruz e o Hospital da Lagoa, mas já não mais participei dos desdobramentos dessa ação.
Destaco aqui a importância e o papel dos institutos nacionais localizados no Rio de Janeiro: os Institutos Nacionais do Câncer (INCA), de Cardiologia (INC) e de Traumatologia e Ortopedia (INTO), os três vinculados diretamente ao MS. Além deles, há que se pensar no papel e no fortalecimento do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI) e do Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF), ambos vinculados à Fiocruz.
JP – Como está a situação da saúde das populações indígenas?
A saúde indígena no Brasil enfrentou uma de suas piores crises em décadas durante a emergência humanitária Yanomami, que expôs de forma dramática o abandono dessas populações. Diante de um cenário catastrófico marcado por altos índices de desnutrição, malária e contaminação por mercúrio, decorrentes do garimpo ilegal, uma de nossas primeiras ações, ainda em janeiro de 2023, foi declarar Emergência em Saúde Pública e iniciar uma intervenção urgente e abrangente. Em dois anos, o número de profissionais atuando na região mais que dobrou, saindo de 690 para 1.781, reativamos sete polos de saúde que estavam fechados, alcançando mais de 5 mil indígenas que estavam sem assistência, e recuperamos as estruturas físicas dos demais polos. Hoje, todos os 37 polos estão abertos e funcionando.
Ainda no âmbito da infraestrutura, demos início à construção do Centro de Saúde Indígena em Surucucu, primeiro hospital de atenção especializada em território indígena, a ser inaugurado em setembro, um marco histórico. Também garantimos a construção do Hospital de Retaguarda, em Boa Vista, adaptados à cultura e às necessidades da população indígena. Demos início ainda à implantação da telessaúde, de energia fotovoltaica e mais pontos de acesso à internet. No campo farmacêutico, introduzimos avanços significativos como a disponibilização do teste G6PD e do medicamento tafenoquina, importante inovação no tratamento da malária, além de reforçarmos a distribuição de alimentos e suplementos nutricionais essenciais. Na vacinação, aumentamos em 65% as doses aplicadas com as vacinas de rotina, de 2023 a 2024. Os resultados de 2023 para 2024 indicam importantes avanços: redução de 73% na letalidade por síndromes respiratórias, de 47% nos óbitos por infecções respiratórias agudas, de 42% nos óbitos por malária e de 20% por desnutrição. Esses números refletem uma mudança de paradigma no atendimento à saúde indígena, inclusive na própria abrangência desses dados, diante da subnotificação de adoecimento e óbitos no último governo.
Para além da Emergência Yanomami, fortalecemos o Subsistema de Saúde Indígena (SasiSUS). A Secretaria de Saúde Indígena (SESAI) conta hoje com 22 mil profissionais, sendo 52% deles indígenas. Implementamos um Plano de Aperfeiçoamento que busca melhorar a distribuição de recursos de acordo com indicadores epidemiológicos e socioeconômicos específicos de cada região. Realizamos seminários regionais, parcerias com instituições de referência como o Hospital Sírio-Libanês e o Albert Einstein para o acesso à telemedicina, além de termos instalado mais de 100 novos pontos de internet em unidades de saúde indígena. Embora os desafios permaneçam significativos, especialmente em áreas de difícil acesso ainda afetadas por atividades ilegais, rompemos com a política de omissão que caracterizou o período anterior. Estabelecemos uma ação de Estado permanente e estruturada, reconhecendo que garantir saúde digna aos povos indígenas não é apenas uma obrigação constitucional, mas um compromisso ético que define o caráter de nossa sociedade e o projeto de nação que buscamos construir.
JP – O que você considera que foi positivo na sua gestão como ministra? Qual foi o legado que você deixou?
Foi uma gestão de reconstrução do papel do MS e de fortalecimento do SUS e do acesso à saúde para nossa população. Com um certo recuo, hoje, percebo um significado mais amplo desses avanços: não apenas retomamos programas, mas os reconstruímos e inovamos com um horizonte de universalização. O maior legado talvez tenha sido de fato dar uma capilaridade nacional a esses programas, como o Mais Médicos, Farmácia Popular, Samu. Dobrar o número de médicos (de cerca de 13 mil para 25 mil), garantir que farmácias sejam credenciadas em todos os municípios, beneficiando hoje 24 milhões de pessoas, ampliar serviços do Samu para que chegue também em todos os municípios do país, esses foram avanços notáveis para além da reconstrução. E isso em um contexto de muita adversidade, após a quebra da continuidade de políticas de saúde a partir de 2016, com políticas restritivas como a Emenda Constitucional 95, do Teto de Gastos, quando faltaram recursos para a saúde, que já são historicamente insuficientes. A Emenda da Transição teve um papel essencial em nossa retomada, que precisa seguir. A política pública leva tempo para ter seus efeitos, entre aprendizados e construções, e a continuidade é um elemento indispensável.
Além disso, demos passos estruturantes na Atenção Especializada, que lida com consultas, exames e cirurgias. Aceleramos a digitalização do SUS, com o SUS Digital, uma ação que ainda vai ser sentida e permite um alcance maior como na caderneta da criança, na integralização de dados e na telessaúde. Essa tem sido uma das bases, ao lado da Estratégia de Saúde da Família, para as Ofertas de Cuidado Integrado, uma reformulação do cuidado no SUS que unifica em um único processo esses serviços de consultas, exames, diagnósticos e cirurgias, transformando em uma só fila todas aquelas que cada paciente precisava enfrentar. O Agora Tem Especialistas dá continuidade a essa política estruturante, que só foi possível com a aprovação histórica da Política Nacional de Atenção Especializada em Saúde (Pnaes), em 2023. A aprovação da Política Nacional de Cuidados Paliativos (PNCP), em 2024, foi também um importante avanço para garantir um atendimento mais humanizado, que minore o sofrimento em todas as etapas do tratamento. Outro importane legado foi nosso papel junto ao Ministério da Fazenda, ao parlamento e à sociedade civil em prol da inclusão do tabaco, dos ultraprocessados e refrigerantes no Imposto Seletivo da Reforma Tributária, que costumo chamar de Imposto da Saúde, por contribuir para a diminuição do consumo de produtos prejudiciais à saúde.
Outras áreas também tiveram grande relevância, como a preparação contra emergências de saúde, a saúde bucal, o enfrentamento de doenças de determinação social, a retomada do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Ceis), a redução da mortalidade materna com a implantação da Rede Alyne e a atuação do Brasil em fóruns internacionais. Neste caso, tivemos conquistas expressivas, como a Coalização para a Produção e Inovação Local e Regional de vacinas, medicamentes e outros bens de saúde, no âmbito do G20. O SUS tem muitos desafios, e precisamos superar o histórico problema do subfinanciamento do maior sistema universal do mundo, mas conseguimos demonstrar que, com vontade política, muito diálogo, e gestão comprometida com os valores do SUS, é possível recuperar e avançar para um sistema público de qualidade.
9. Qual é o maior inimigo da saúde pública no Brasil?
Posso afirmar que o maior inimigo da saúde pública, não só no Brasil, mas no mundo, são as desigualdades. Na pandemia, vimos como a negligência com pessoas e países mais pobres facilitou a circulação, transmissão e evolução da Covid-19. Talvez não seja por acaso que as variantes mais agressivas, a Delta e a Gama, tenham surgido em dois dos países mais desiguais: a Índia e o próprio Brasil, respectivamente. Desigualdade faz mal à saúde: populações mais pobres enfrentam maior exposição a doenças evitáveis, menor cobertura vacinal, dificuldades no acesso a consultas e tratamentos e maior vulnerabilidade a crises sanitárias e ambientais. Os maiores desafios da atualidade, como mudanças climáticas, inteligência artificial, violência, incidem na saúde e podem aprofundar essas desigualdades. E a pandemia mostrou que se uma pessoa não estiver protegida, nenhuma estará. Temos que pensar na dimensão coletiva da saúde, não só na individual, e sistemas de saúde como o SUS têm uma grande contribuição a dar nesse sentido. O Programa Brasil Saudável, que lançamos em 2024, em uma ação transversal com outros 13 Ministérios, procura enfrentar esse desafio. O Brasil foi o primeiro país a lançar uma iniciativa do tipo, que enfrente as desigualdades a partir da perspectiva da saúde.
Também precisamos enfrentar, além das desigualdades, o problema histórico de subfinanciamento do SUS. O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes a ter um sistema universal de saúde. E atendemos ao dobro desse número. Os recursos precisam ser condizentes com essa ordem de grandeza para que tenhamos um serviço de qualidade. Em 2021, o Brasil investiu 4% do PIB em saúde, abaixo dos 6% recomendados pela Organização Mundial da Saúde e quase a metade do investimento de países da OCDE. Foram essenciais a revogação da Emenda Constitucional 95 (Testo de Gastos) e a recuperação do piso da saúde, com a vinculação do investimento a 15% da receita corrente líquida da União. Precisamos dar continuidade aos investimentos para um salto de qualidade no SUS e para que uma mentalidade pública da saúde prevaleça. Saúde é direito, mas é também investimento. Populações saudáveis são mais produtivas, impulsionam o desenvolvimento e reduzem custos futuros com doenças crônicas e internações evitáveis. Pondo lado a lado esses dois problemas, desigualdades e subfinancimento, vemos a importância de que o Brasil encare a questão da justiça tributária. Sem um sistema tributário justo e redistributivo, dificilmente superaremos esses desafios.

10. Quais são os seus planos futuros?
Meus planos se organizam em três dimensões principais que refletem meu compromisso com a saúde pública e a justiça social. Na dimensão acadêmica, pretendo consolidar uma agenda de pesquisa que articule os desafios do SUS com as inovações necessárias ao enfrentamento das desigualdades em saúde, trabalhando tanto na Fiocruz quanto na Cátedra Olavo Setubal/USP. Essa produção acadêmica tem como foco especial aprendizados com a pandemia e estratégias para a prevenção e preparação contra novas emergências de saúde, o que envolve fundamentalmente a redução das desigualdades. Em diálogo como essas questões, na esfera da Saúde Global, seguirei atuando no UNAIDS e em outros fóruns internacionais para promover a equidade no acesso a tecnologias em saúde e a cooperação científica. Um eixo importante será dar continuidade às discussões sobre o Acordo sobre Pandemias e à Coalizão Global pela Inovação e Produção Local e Regional, entre outras iniciativas, reforçando o papel estratégico do Brasil.
Por fim, mantenho meu compromisso com a divulgação científica e o debate sobre políticas de saúde e ciência. Além do livro e da exposição sobre a pandemia, pretendo contribuir para o fortalecimento de redes de organizações pela saúde e participar ativamente dos debates sobre o futuro do SUS. Meu objetivo é ajudar a construir pontes entre conhecimento científico, políticas públicas e movimentos sociais, sempre com foco na redução das desigualdades e na defesa da saúde como direito fundamental. Esses planos estão unidos por uma mesma convicção: que a transformação social passa necessariamente pela democratização do conhecimento e pelo fortalecimento da sociedade civil e de instituições capazes de promover desenvolvimento com justiça social e ambiental.