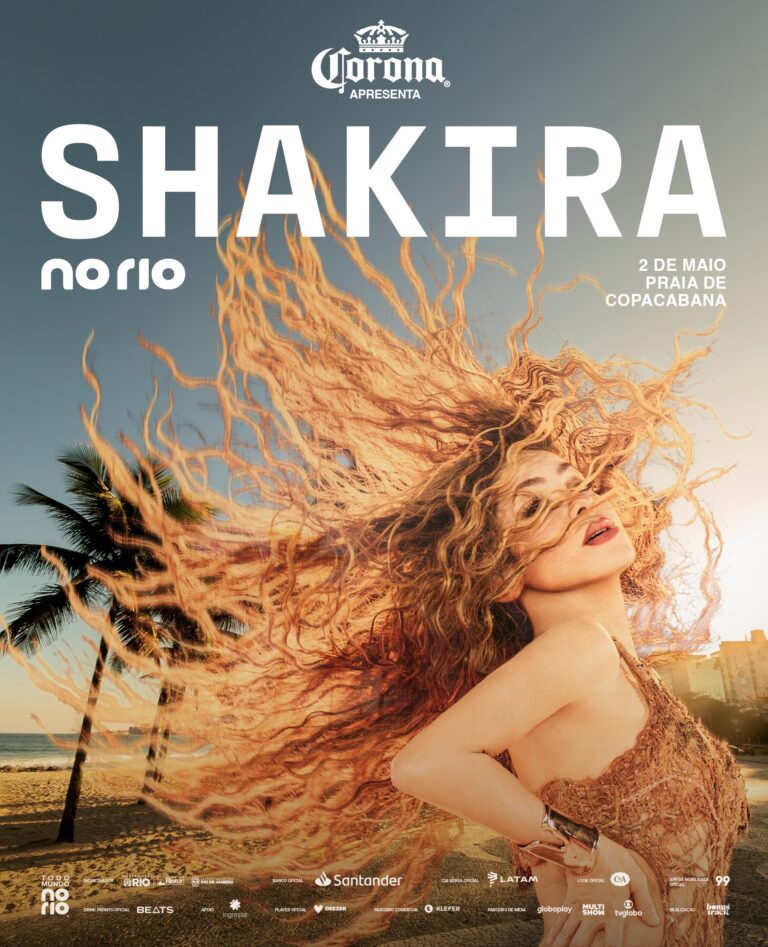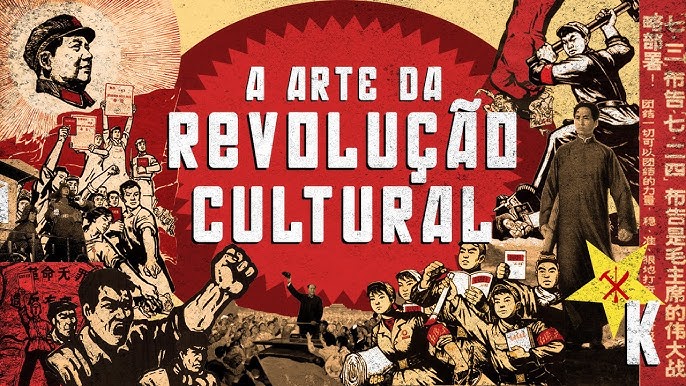
 Por Arlindenor Pedro – Professor de História, Filosofia e Sociologia, editor do Blog, Revista Eletrônica e canal YouTube Utopias Pós Capitalistas.
Por Arlindenor Pedro – Professor de História, Filosofia e Sociologia, editor do Blog, Revista Eletrônica e canal YouTube Utopias Pós Capitalistas.Em maio de 1966, Mao Tsé-tung conclamou a juventude chinesa a levantar-se contra “os velhos costumes, as velhas ideias, as velhas tradições e os velhos hábitos”.
Era o início da chamada Revolução Cultural Proletária. Em poucas semanas, escolas e universidades se transformaram em palcos de denúncias e rituais de humilhação. Vizinhos e parentes apontavam-se, mutuamente, como inimigos. Intelectuais eram arrastados às praças públicas.Templos, bibliotecas e obras de arte eram destruídos em nome da pureza revolucionária. A sociedade chinesa, já marcada pelas tragédias da fome do “Grande Salto Adiante”, mergulhava em uma década de convulsão.
Não se tratava de um delírio pessoal de Mao, como repetem os liberais, nem de uma simples “radicalização de massas” idealizada por setores nostálgicos da esquerda. A Revolução Cultural foi o reflexo de um impasse mais profundo: A tentativa de ultrapassar o capitalismo mantendo intactas suas categorias fundamentais: Valor, mercadoria, trabalho abstrato, dinheiro, agora administradas pelo Estado-partido. E por isto mesmo, julgamos uma experiência fracassada!
O Partido Comunista, que nascera com a promessa de emancipação, naquele momento, se mostrava dividido. Liu Shaoqi e Deng Xiaoping defendiam medidas de racionalização econômica, incentivos materiais e descentralização produtiva. Mao via nisso uma restauração capitalista e não hesitou em romper com seus velhos camaradas.
Não se tratava de um delírio pessoal de Mao, como repetem os liberais, nem de uma simples “radicalização de massas” idealizada por setores nostálgicos da esquerda. A Revolução Cultural foi o reflexo de um impasse mais profundo: A tentativa de ultrapassar o capitalismo mantendo intactas suas categorias fundamentais: Valor, mercadoria, trabalho abstrato, dinheiro, agora administradas pelo Estado-partido. E por isto mesmo, julgamos uma experiência fracassada!
O Partido Comunista, que nascera com a promessa de emancipação, naquele momento, se mostrava dividido. Liu Shaoqi e Deng Xiaoping defendiam medidas de racionalização econômica, incentivos materiais e descentralização produtiva. Mao via nisso uma restauração capitalista e não hesitou em romper com seus velhos camaradas.
Ao lançar as Guardas Vermelhas (estudantes inflamados que se julgavam a vanguarda da revolução) tentou convocar as massas contra a burocracia do próprio partido. Era o gesto ousado de um líder que se via cercado, buscando apoio direto no fervor popular. “Todo o fogo no Partido”, dizia Mao naquele momento!
O que se seguiu foi uma onda de violência que escapou a qualquer controle. Professores foram humilhados diante de seus alunos, famílias se desfizeram em acusações recíprocas, fábricas foram tomadas por facções que se enfrentavam como exércitos. O Exército Popular de Libertação, sob Lin Biao, inicialmente apoiou Mao, mas logo teve de intervir para conter batalhas de rua entre os próprios Guardas Vermelhas. O paradoxo era evidente: A revolução contra a burocracia dependia cada vez mais das armas para não se autodestruir.O caos estava instalado!
Na esfera cultural, a figura de Jiang Qing, esposa de Mao, tornou-se central. Ex-atriz, assumiu o comando das artes e da cultura e decretou que apenas “modelos revolucionários” poderiam circular. Assim nasceram as óperas e balés que exaltavam camponeses e soldados, enquanto o vasto patrimônio artístico chinês era denunciado como feudal e reacionário. O teatro tradicional foi interditado, os livros clássicos queimados, a história reescrita. A cultura deveria ser propaganda, e a propaganda deveria ser cultura.Instaurou-se o medo e perseguição ao pensamento!
A partir de 1971, com a morte misteriosa de Lin Biao, acusado de conspirar contra Mao, o equilíbrio de forças se rompeu. Jiang Qing e três aliados — Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan e Wang Hongwen — formaram a chamada Gangue dos Quatro. Representavam a ala radical, empenhada em manter vivo o fogo da revolução. Quando Mao morreu em 1976, foram presos e responsabilizados pelos excessos, encerrando oficialmente a década de turbulência.
Mao Tsé-tung, já no final dos anos 1960, apresentava sinais de saúde debilitada: Sofria de esclerose lateral amiotrófica em estágio inicial, tinha problemas cardíacos e respiratórios, além de uma arteriosclerose que limitava sua mobilidade. A partir de 1972, os sintomas se agravaram com crises de insuficiência respiratória e derrames parciais que afetaram sua fala e coordenação motora.
Com isso, Mao foi progressivamente afastando-se da condução direta do governo, mantendo-se mais como uma figura simbólica. O poder real passou a oscilar entre Zhou Enlai, que tentava restaurar certa estabilidade administrativa, e a ala radical encabeçada por Jiang Qing e a futura “Gangue dos Quatro”. Mesmo fragilizado, Mao preservava uma aura quase mítica: Sua imagem permanecia intocada, o Livro Vermelho continuava a circular, e seu retrato seguia como emblema da revolução.
Quando a Revolução Cultural entrou em colapso, após sua morte em setembro de 1976, sua figura não foi imediatamente deslegitimada. Ao contrário, foi mantida como patrimônio simbólico da revolução, enquanto os “excessos” eram atribuídos à Gangue dos Quatro. Assim, Mao foi preservado como ícone, mesmo quando a experiência que ele desencadeara havia sido oficialmente derrotada.
Mas seria um erro acreditar que tudo o que se passou se resumia a intrigas palacianas. A Revolução Cultural mobilizou correntes profundas da sociedade chinesa. Durante séculos, o confucionismo estruturara a obediência e a hierarquia, exaltando a submissão filial e a ordem. O taoismo, com sua filosofia do fluxo natural, ensinava a adaptação e a resignação. O budismo, em suas versões populares, difundia a aceitação do sofrimento como caminho de expiação. Essas tradições, ainda que perseguidas como feudalismo, sobreviveram nos gestos e mentalidades. Sempre foram claramente instrumentos de controle social. O próprio Mao, mesmo ao condená-las, recuperava suas lógicas: A autoridade absoluta como centro, a disciplina como virtude, a obediência como destino. A crítica à tradição, nesse sentido, foi também uma reatualização da tradição sob nova roupagem.
No interior desse turbilhão, surgiram experiências contraditórias, mas reveladoras. E é neste sentido que quero chamar a atenção dos leitores para observarem com um outro olhar este momento da história,tão pouco estudado, da Revolução Cultural Chinesa. A busca pela auto-sustentação das províncias levou comunas locais a organizar sua própria produção e serviços básicos, insinuando um caminho de descentralização que, em condições livres, poderia apontar para a vida voltada às necessidades concretas e não à acumulação. O envio de milhões de jovens ao campo (o movimento “Xiaxiang” ) pretendia superar a distância entre cidade e aldeia. Para muitos, foi um trauma: a juventude urbana experimentou o trabalho duro e o exílio forçado. Mas esse deslocamento expressava, ainda que de forma coercitiva, uma crítica à hipertrofia urbana e à desigualdade entre campo e cidade.
As universidades, fechadas e reabertas, foram outro campo de experimentação. A reocupação dos campi privilegiou estudantes “filhos do povo” e convocou a ciência a servir à revolução. A perseguição a pesquisadores e o empobrecimento acadêmico foram inegáveis, mas havia a intuição de que a ciência não é neutra nem pode ser moldada pelo mercado: deveria integrar-se ao tecido social.
A Revolução Cultural também transformou as relações interpessoais. A política invadiu lares e amizades, convertendo cada gesto em suspeita. Pais e filhos, maridos e esposas, todos podiam se tornar inimigos. A experiência foi devastadora, mas revelou um ponto essencial: a dominação não reside apenas nas instituições, mas também nos vínculos mais íntimos. Para as mulheres, o processo foi ambíguo. Ganhavam espaço simbólico, mas sofriam novas violências. Como lembrou Roswitha Scholz,: o capitalismo,e sua variante socialista,repousa sobre uma dissociação estrutural onde a esfera da reprodução permanece subordinada à esfera “masculina” do valor. Jiang Qing, no topo do poder, não representava emancipação feminina, mas sim a instrumentalização de uma mulher dentro da lógica patriarcal do partido.
E, nada foi tão decisivo quanto o papel da juventude. Foram jovens os primeiros a incendiar universidades, tomar fábricas, desafiar autoridades. Sua energia mostrou a potência da imaginação social, mas também a fragilidade de um movimento sem crítica às formas sociais do capital. Sem esse horizonte, a juventude foi capturada pelo culto ao líder e pela lógica do inimigo. Ainda assim, a lição permanece: Nenhuma transformação emancipatória é possível sem a juventude, mas essa energia precisa ser guiada por uma crítica radical e não pela violência.
Ao final, a Revolução Cultural não aboliu o trabalho, o valor ou a mercadoria; apenas deslocou seus gestores. O que se pretendia a revolução permanente foi, como disse Lin Weiran em Um Iluminismo Abortado, uma tentativa fracassada de criar uma nova consciência. A violência tomou o lugar da crítica, e o culto ao líder substituiu a emancipação. Para Moishe Postone, o trabalho abstrato é a essência do capitalismo; para Robert Kurz, o socialismo real não passava de uma variante da modernização capitalista. A Revolução Cultural confirma essas teses: não atacou as formas sociais que sustentam a dominação, apenas as reconfigurou. Não fez uma crítica radical às categorias fundante do capitalismo, isto é fato!
O que resta de lição, então? Em primeiro lugar, que emancipação não pode ser confundida com mobilização de massas sem horizonte crítico. A experiência chinesa mostra o risco de converter energia social em culto à personalidade e violência fratricida. Para um Brasil pós-capitalista, que sonhamos, que carrega em sua história a marca da escravidão, da ditadura e da desigualdade estrutural, isso significa que nenhuma transformação pode apoiar-se na lógica do inimigo interno ou no ressentimento cego, sob pena de reproduzir novas formas de barbárie. Em segundo lugar, a Revolução Cultural ensina que não há emancipação possível sem questionar o valor, o trabalho e o Estado. O erro da experiência chinesa foi tentar revolucionar mantendo intacto o trabalho abstrato como medida da riqueza e o Estado como administrador da vida social; seu acerto foi mostrar que trocar gestores não basta, pois o núcleo do problema está nas próprias formas sociais.
Para o Brasil, país onde ainda prevalece a crença no “crescimento pelo trabalho” e na salvação pelo Estado, a lição é clara: um horizonte emancipatório só poderá nascer ao romper com a ideologia desenvolvimentista e com o fetichismo estatal, reorganizando a vida em torno das necessidades concretas. Em terceiro lugar, a Revolução Cultural revelou que não existe emancipação sem enfrentar a dissociação: as opressões de gênero, de cultura e de subjetividade não são resíduos secundários, mas estruturais. A China fracassou ao manter a subordinação das mulheres e ao transformar a crítica cotidiana em instrumento de controle e violência. O Brasil, com sua herança patriarcal, racista e colonial, só poderá caminhar para uma emancipação real se unir a crítica ao valor com a crítica à dissociação Isto é: se romper tanto com a exploração econômica quanto com a invisibilização do trabalho reprodutivo, das culturas populares e das subjetividades dissidentes.
Mas, antes de terminar é preciso deixar aqui uma outra advertência : se queremos sonhar com uma sociedade fora das amarras das estruturas do capitalismo não podemos esquecer e incorrer nos erros do Camboja sob o Khmer Vermelho, que, inspirando-se de forma distorcida na Revolução Cultural, levou a um regime de extermínio. Ao tentar aplicar de maneira mecânica a ideia de “purificação social”, Pol Pot e seus seguidores transformaram o impulso crítico em genocídio. A experiência cambojana é a demonstração de que, quando a crítica ao capitalismo não se volta contra as suas categorias abstratas: o valor, o trabalho, a mercadoria ,mas contra pessoas concretas transformadas em inimigos, o resultado é a barbárie absoluta. O que devemos aprender da Revolução Cultural não é sua vertente repressiva e destrutiva, mas seus lampejos libertários: a crítica à separação entre campo e cidade, à ciência submetida ao mercado, às hierarquias autoritárias e à passividade cotidiana. Esses ensaios abortados devem ser retomados criticamente, não para repetir um modelo, mas para vislumbrar como poderia ser uma sociedade emancipada, capaz de escapar ao círculo do capital e de suas repetições mortíferas.
O que se seguiu foi uma onda de violência que escapou a qualquer controle. Professores foram humilhados diante de seus alunos, famílias se desfizeram em acusações recíprocas, fábricas foram tomadas por facções que se enfrentavam como exércitos. O Exército Popular de Libertação, sob Lin Biao, inicialmente apoiou Mao, mas logo teve de intervir para conter batalhas de rua entre os próprios Guardas Vermelhas. O paradoxo era evidente: A revolução contra a burocracia dependia cada vez mais das armas para não se autodestruir.O caos estava instalado!
Na esfera cultural, a figura de Jiang Qing, esposa de Mao, tornou-se central. Ex-atriz, assumiu o comando das artes e da cultura e decretou que apenas “modelos revolucionários” poderiam circular. Assim nasceram as óperas e balés que exaltavam camponeses e soldados, enquanto o vasto patrimônio artístico chinês era denunciado como feudal e reacionário. O teatro tradicional foi interditado, os livros clássicos queimados, a história reescrita. A cultura deveria ser propaganda, e a propaganda deveria ser cultura.Instaurou-se o medo e perseguição ao pensamento!
A partir de 1971, com a morte misteriosa de Lin Biao, acusado de conspirar contra Mao, o equilíbrio de forças se rompeu. Jiang Qing e três aliados — Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan e Wang Hongwen — formaram a chamada Gangue dos Quatro. Representavam a ala radical, empenhada em manter vivo o fogo da revolução. Quando Mao morreu em 1976, foram presos e responsabilizados pelos excessos, encerrando oficialmente a década de turbulência.
Mao Tsé-tung, já no final dos anos 1960, apresentava sinais de saúde debilitada: Sofria de esclerose lateral amiotrófica em estágio inicial, tinha problemas cardíacos e respiratórios, além de uma arteriosclerose que limitava sua mobilidade. A partir de 1972, os sintomas se agravaram com crises de insuficiência respiratória e derrames parciais que afetaram sua fala e coordenação motora.
Com isso, Mao foi progressivamente afastando-se da condução direta do governo, mantendo-se mais como uma figura simbólica. O poder real passou a oscilar entre Zhou Enlai, que tentava restaurar certa estabilidade administrativa, e a ala radical encabeçada por Jiang Qing e a futura “Gangue dos Quatro”. Mesmo fragilizado, Mao preservava uma aura quase mítica: Sua imagem permanecia intocada, o Livro Vermelho continuava a circular, e seu retrato seguia como emblema da revolução.
Quando a Revolução Cultural entrou em colapso, após sua morte em setembro de 1976, sua figura não foi imediatamente deslegitimada. Ao contrário, foi mantida como patrimônio simbólico da revolução, enquanto os “excessos” eram atribuídos à Gangue dos Quatro. Assim, Mao foi preservado como ícone, mesmo quando a experiência que ele desencadeara havia sido oficialmente derrotada.
Mas seria um erro acreditar que tudo o que se passou se resumia a intrigas palacianas. A Revolução Cultural mobilizou correntes profundas da sociedade chinesa. Durante séculos, o confucionismo estruturara a obediência e a hierarquia, exaltando a submissão filial e a ordem. O taoismo, com sua filosofia do fluxo natural, ensinava a adaptação e a resignação. O budismo, em suas versões populares, difundia a aceitação do sofrimento como caminho de expiação. Essas tradições, ainda que perseguidas como feudalismo, sobreviveram nos gestos e mentalidades. Sempre foram claramente instrumentos de controle social. O próprio Mao, mesmo ao condená-las, recuperava suas lógicas: A autoridade absoluta como centro, a disciplina como virtude, a obediência como destino. A crítica à tradição, nesse sentido, foi também uma reatualização da tradição sob nova roupagem.
No interior desse turbilhão, surgiram experiências contraditórias, mas reveladoras. E é neste sentido que quero chamar a atenção dos leitores para observarem com um outro olhar este momento da história,tão pouco estudado, da Revolução Cultural Chinesa. A busca pela auto-sustentação das províncias levou comunas locais a organizar sua própria produção e serviços básicos, insinuando um caminho de descentralização que, em condições livres, poderia apontar para a vida voltada às necessidades concretas e não à acumulação. O envio de milhões de jovens ao campo (o movimento “Xiaxiang” ) pretendia superar a distância entre cidade e aldeia. Para muitos, foi um trauma: a juventude urbana experimentou o trabalho duro e o exílio forçado. Mas esse deslocamento expressava, ainda que de forma coercitiva, uma crítica à hipertrofia urbana e à desigualdade entre campo e cidade.
As universidades, fechadas e reabertas, foram outro campo de experimentação. A reocupação dos campi privilegiou estudantes “filhos do povo” e convocou a ciência a servir à revolução. A perseguição a pesquisadores e o empobrecimento acadêmico foram inegáveis, mas havia a intuição de que a ciência não é neutra nem pode ser moldada pelo mercado: deveria integrar-se ao tecido social.
A Revolução Cultural também transformou as relações interpessoais. A política invadiu lares e amizades, convertendo cada gesto em suspeita. Pais e filhos, maridos e esposas, todos podiam se tornar inimigos. A experiência foi devastadora, mas revelou um ponto essencial: a dominação não reside apenas nas instituições, mas também nos vínculos mais íntimos. Para as mulheres, o processo foi ambíguo. Ganhavam espaço simbólico, mas sofriam novas violências. Como lembrou Roswitha Scholz,: o capitalismo,e sua variante socialista,repousa sobre uma dissociação estrutural onde a esfera da reprodução permanece subordinada à esfera “masculina” do valor. Jiang Qing, no topo do poder, não representava emancipação feminina, mas sim a instrumentalização de uma mulher dentro da lógica patriarcal do partido.
E, nada foi tão decisivo quanto o papel da juventude. Foram jovens os primeiros a incendiar universidades, tomar fábricas, desafiar autoridades. Sua energia mostrou a potência da imaginação social, mas também a fragilidade de um movimento sem crítica às formas sociais do capital. Sem esse horizonte, a juventude foi capturada pelo culto ao líder e pela lógica do inimigo. Ainda assim, a lição permanece: Nenhuma transformação emancipatória é possível sem a juventude, mas essa energia precisa ser guiada por uma crítica radical e não pela violência.
Ao final, a Revolução Cultural não aboliu o trabalho, o valor ou a mercadoria; apenas deslocou seus gestores. O que se pretendia a revolução permanente foi, como disse Lin Weiran em Um Iluminismo Abortado, uma tentativa fracassada de criar uma nova consciência. A violência tomou o lugar da crítica, e o culto ao líder substituiu a emancipação. Para Moishe Postone, o trabalho abstrato é a essência do capitalismo; para Robert Kurz, o socialismo real não passava de uma variante da modernização capitalista. A Revolução Cultural confirma essas teses: não atacou as formas sociais que sustentam a dominação, apenas as reconfigurou. Não fez uma crítica radical às categorias fundante do capitalismo, isto é fato!
O que resta de lição, então? Em primeiro lugar, que emancipação não pode ser confundida com mobilização de massas sem horizonte crítico. A experiência chinesa mostra o risco de converter energia social em culto à personalidade e violência fratricida. Para um Brasil pós-capitalista, que sonhamos, que carrega em sua história a marca da escravidão, da ditadura e da desigualdade estrutural, isso significa que nenhuma transformação pode apoiar-se na lógica do inimigo interno ou no ressentimento cego, sob pena de reproduzir novas formas de barbárie. Em segundo lugar, a Revolução Cultural ensina que não há emancipação possível sem questionar o valor, o trabalho e o Estado. O erro da experiência chinesa foi tentar revolucionar mantendo intacto o trabalho abstrato como medida da riqueza e o Estado como administrador da vida social; seu acerto foi mostrar que trocar gestores não basta, pois o núcleo do problema está nas próprias formas sociais.
Para o Brasil, país onde ainda prevalece a crença no “crescimento pelo trabalho” e na salvação pelo Estado, a lição é clara: um horizonte emancipatório só poderá nascer ao romper com a ideologia desenvolvimentista e com o fetichismo estatal, reorganizando a vida em torno das necessidades concretas. Em terceiro lugar, a Revolução Cultural revelou que não existe emancipação sem enfrentar a dissociação: as opressões de gênero, de cultura e de subjetividade não são resíduos secundários, mas estruturais. A China fracassou ao manter a subordinação das mulheres e ao transformar a crítica cotidiana em instrumento de controle e violência. O Brasil, com sua herança patriarcal, racista e colonial, só poderá caminhar para uma emancipação real se unir a crítica ao valor com a crítica à dissociação Isto é: se romper tanto com a exploração econômica quanto com a invisibilização do trabalho reprodutivo, das culturas populares e das subjetividades dissidentes.
Mas, antes de terminar é preciso deixar aqui uma outra advertência : se queremos sonhar com uma sociedade fora das amarras das estruturas do capitalismo não podemos esquecer e incorrer nos erros do Camboja sob o Khmer Vermelho, que, inspirando-se de forma distorcida na Revolução Cultural, levou a um regime de extermínio. Ao tentar aplicar de maneira mecânica a ideia de “purificação social”, Pol Pot e seus seguidores transformaram o impulso crítico em genocídio. A experiência cambojana é a demonstração de que, quando a crítica ao capitalismo não se volta contra as suas categorias abstratas: o valor, o trabalho, a mercadoria ,mas contra pessoas concretas transformadas em inimigos, o resultado é a barbárie absoluta. O que devemos aprender da Revolução Cultural não é sua vertente repressiva e destrutiva, mas seus lampejos libertários: a crítica à separação entre campo e cidade, à ciência submetida ao mercado, às hierarquias autoritárias e à passividade cotidiana. Esses ensaios abortados devem ser retomados criticamente, não para repetir um modelo, mas para vislumbrar como poderia ser uma sociedade emancipada, capaz de escapar ao círculo do capital e de suas repetições mortíferas.