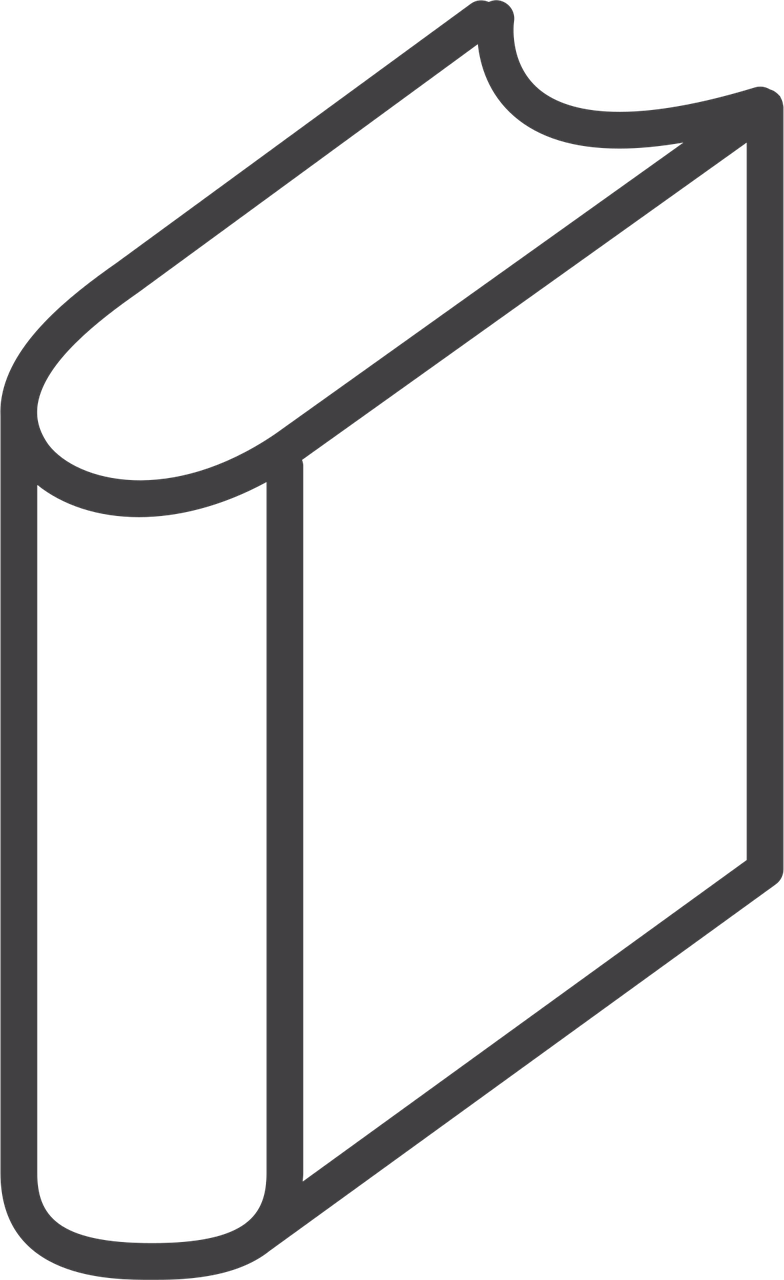
 Por Arlindenor Pedro – Professor de História, Sociologia e Filosofia, Arlindenor Pedro é editor do Blog, Revista Eletrônica e canal YouTube Utopias Pós Capitalistas.
Por Arlindenor Pedro – Professor de História, Sociologia e Filosofia, Arlindenor Pedro é editor do Blog, Revista Eletrônica e canal YouTube Utopias Pós Capitalistas.
Pesquisas recentes do MEC revelam que o número de estudantes em cursos de ensino à distância, no Brasil, já ultrapassa o de alunos matriculados no ensino presencial, com predominância acentuada nas instituições privadas.
Esse dado não é neutro. Ele revela o avanço de uma lógica de mercantilização da educação, em que prevalecem a redução de custos, a ampliação de matrículas e a padronização de conteúdos em detrimento da experiência formativa.
No ambiente do EAD (Educação à Distância) , a relação direta entre professor e aluno se fragiliza, a mediação tecnológica se torna regra e o tempo da aprendizagem se transforma em fluxo acelerado de tarefas e entregas.
Nesse cenário, a inteligência artificial aparece não como ruptura externa, mas como prolongamento dessa mesma lógica: o estudante já distante do espaço físico da escola encontra na IA um atalho perfeito para responder demandas acadêmicas cada vez mais abstratas, genéricas e descoladas de sua realidade. O uso da trapaça, longe de episódio casual se torna constante.
A trapaça, nesse contexto, não é apenas um desvio ético individual, mas um sintoma coletivo da erosão da qualidade do ensino. A ausência de acompanhamento próximo, típica dos cursos em massa oferecidos à distância, favorece o uso acrítico da IA como substituto do esforço intelectual. Em vez de aprender a formular perguntas, a investigar e a refletir, o estudante é incentivado a entregar respostas rápidas, frequentemente copiadas da máquina, reproduzindo a mesma superficialidade que marca muitos currículos engessados do EAD.
A trapaça, nesse contexto, não é apenas um desvio ético individual, mas um sintoma coletivo da erosão da qualidade do ensino. A ausência de acompanhamento próximo, típica dos cursos em massa oferecidos à distância, favorece o uso acrítico da IA como substituto do esforço intelectual. Em vez de aprender a formular perguntas, a investigar e a refletir, o estudante é incentivado a entregar respostas rápidas, frequentemente copiadas da máquina, reproduzindo a mesma superficialidade que marca muitos currículos engessados do EAD.
O resultado é a acentuação de uma formação precária, onde diplomas proliferam, mas a capacidade crítica, a autonomia intelectual e o vínculo com a realidade se esvaziam.
Essa deterioração não é casual. Ela está inserida no processo mais amplo de esgotamento do capitalismo, em sua fase digital-financeira, que desloca a vida humana para a esfera da abstração e da simulação.
Essa deterioração não é casual. Ela está inserida no processo mais amplo de esgotamento do capitalismo, em sua fase digital-financeira, que desloca a vida humana para a esfera da abstração e da simulação.
Na esfera econômica, a financeirização e a digitalização criam valor cada vez mais abstrato e desconectado da produção material. Na social, a mediação das telas e algoritmos converte conhecimento, trabalho e afetos em simulacros.
Nesse contexto, o estudante que recorre à IA para entregar uma resposta pronta não age como um desonesto isolado, mas como alguém reproduzindo, em escala micro, a lógica do espetáculo.
Guy Debord, no século passado, já havia descrito essa transformação. Quando a aparência se impõe sobre a realidade e a imagem sobre a vida, a experiência viva é substituída por representações. A fraude escolar, nesse sentido, não é acidente, mas sintoma de uma cultura em que o imediato, o simulacro e a performance têm mais valor do que o esforço paciente da reflexão.
Essa crítica não é apenas brasileira. Em diferentes países, buscam-se saídas para a crise.
Essa crítica não é apenas brasileira. Em diferentes países, buscam-se saídas para a crise.
Nos Estados Unidos, universidades como Princeton e Harvard reformularam avaliações e passaram a privilegiar provas orais, debates e projetos acompanhados de versões sucessivas, além de códigos de ética que obrigam os estudantes a declarar quando utilizam IA em seus trabalhos.
O Reino Unido, em Cambridge, segue caminho semelhante, autorizando o uso da IA desde que citada como qualquer outra fonte.
A Austrália adota uma estratégia híbrida, retomando exames escritos à mão para reduzir a dependência da máquina, ao mesmo tempo em que investe em alfabetização digital. Na França, o tema ganhou dimensão pública com consultas nacionais para estabelecer diretrizes sobre IA na educação. Já, a Finlândia procura integrar a tecnologia em atividades interdisciplinares, nas quais os alunos geram hipóteses com a máquina, mas precisam verificá-las no mundo real.
No Brasil, porém, o debate permanece fragmentado. Algumas universidades ensaiam políticas de uso responsável e escolas privadas experimentam a personalização do ensino, mas no setor público prevalece uma visão defensiva que trata a IA apenas como ameaça à integridade das avaliações. Esse atraso mostra que a questão não é apenas metodológica, mas estrutural: a combinação entre o EAD de massa e o uso fraudulento da IA escancara o esgotamento de um modelo escolar que já não dialoga com a realidade.
Um ensino que se pretenda emancipador não pode se limitar a respostas prontas ou a abstrações geradas por algoritmos. Ele precisa apoiar-se nas experiências reais do sujeito, de sua comunidade, de seu país e da humanidade.
No Brasil, porém, o debate permanece fragmentado. Algumas universidades ensaiam políticas de uso responsável e escolas privadas experimentam a personalização do ensino, mas no setor público prevalece uma visão defensiva que trata a IA apenas como ameaça à integridade das avaliações. Esse atraso mostra que a questão não é apenas metodológica, mas estrutural: a combinação entre o EAD de massa e o uso fraudulento da IA escancara o esgotamento de um modelo escolar que já não dialoga com a realidade.
Um ensino que se pretenda emancipador não pode se limitar a respostas prontas ou a abstrações geradas por algoritmos. Ele precisa apoiar-se nas experiências reais do sujeito, de sua comunidade, de seu país e da humanidade.
Paulo Freire já insistia que ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo.
Isso significa que a sala de aula deve se abrir para o vivido, para a prática concreta, para os saberes populares e para os problemas históricos de cada contexto. Aprender, nesse horizonte, é decifrar a própria realidade para transformá-la, e não reproduzir mecanicamente fórmulas ou conteúdos. Ao incorporar a inteligência artificial, a escola não deve abandonar esse princípio, mas reafirmá-lo: toda tecnologia só faz sentido se servir de ponte entre o conhecimento crítico e a vida concreta, entre o saber científico e as lutas cotidianas por dignidade e liberdade.
Reinventar a escola significa, portanto, mais do que criar novos métodos de avaliação. É restituir ao aprendizado o vínculo com a realidade e com a experiência concreta, rompendo com a lógica da abstração total que domina o capitalismo atual. Trabalhos que envolvam vivências locais, diálogos comunitários, pesquisa empírica e autoria crítica tornam-se antídotos contra a colonização algorítmica. Da mesma forma, é necessário instituir uma pedagogia da IA, que não se limite a ensinar seu uso técnico, mas também a problematizar seus vieses, suas limitações e o modo como reforça a lógica de simulação que sustenta o capitalismo tardio. O professor, nesse cenário, deixa de ser um fiscal de fraude e volta a ser mediador de sentido, alguém que confronta a produção algorítmica com a reflexão humana.
No fim, a trapaça não é apenas um gesto furtivo de alunos diante das provas. É o espelho de uma civilização que já trapaceia a si mesma, que já não sustenta o vínculo entre palavras e coisas, entre diplomas e saber, entre espetáculo e vida. O ensino à distância massificado, a inteligência artificial usada como atalho e a lógica capitalista de aceleração e abstração são apenas faces de um mesmo processo. A substituição da experiência pela simulação. Mas a educação pode ser o lugar da ruptura. Cabe-lhe escolher entre seguir como engrenagem de um sistema que fabrica ilusões ou afirmar-se como espaço de emancipação, onde a palavra volta a encontrar o mundo e onde aprender é um ato de dignidade. Se a escola tiver coragem de reatar-se à vida concreta, ela poderá fazer da própria máquina um instrumento de libertação; caso contrário, será apenas mais uma vitrine iluminada na grande feira do espetáculo.
Reinventar a escola significa, portanto, mais do que criar novos métodos de avaliação. É restituir ao aprendizado o vínculo com a realidade e com a experiência concreta, rompendo com a lógica da abstração total que domina o capitalismo atual. Trabalhos que envolvam vivências locais, diálogos comunitários, pesquisa empírica e autoria crítica tornam-se antídotos contra a colonização algorítmica. Da mesma forma, é necessário instituir uma pedagogia da IA, que não se limite a ensinar seu uso técnico, mas também a problematizar seus vieses, suas limitações e o modo como reforça a lógica de simulação que sustenta o capitalismo tardio. O professor, nesse cenário, deixa de ser um fiscal de fraude e volta a ser mediador de sentido, alguém que confronta a produção algorítmica com a reflexão humana.
No fim, a trapaça não é apenas um gesto furtivo de alunos diante das provas. É o espelho de uma civilização que já trapaceia a si mesma, que já não sustenta o vínculo entre palavras e coisas, entre diplomas e saber, entre espetáculo e vida. O ensino à distância massificado, a inteligência artificial usada como atalho e a lógica capitalista de aceleração e abstração são apenas faces de um mesmo processo. A substituição da experiência pela simulação. Mas a educação pode ser o lugar da ruptura. Cabe-lhe escolher entre seguir como engrenagem de um sistema que fabrica ilusões ou afirmar-se como espaço de emancipação, onde a palavra volta a encontrar o mundo e onde aprender é um ato de dignidade. Se a escola tiver coragem de reatar-se à vida concreta, ela poderá fazer da própria máquina um instrumento de libertação; caso contrário, será apenas mais uma vitrine iluminada na grande feira do espetáculo.




