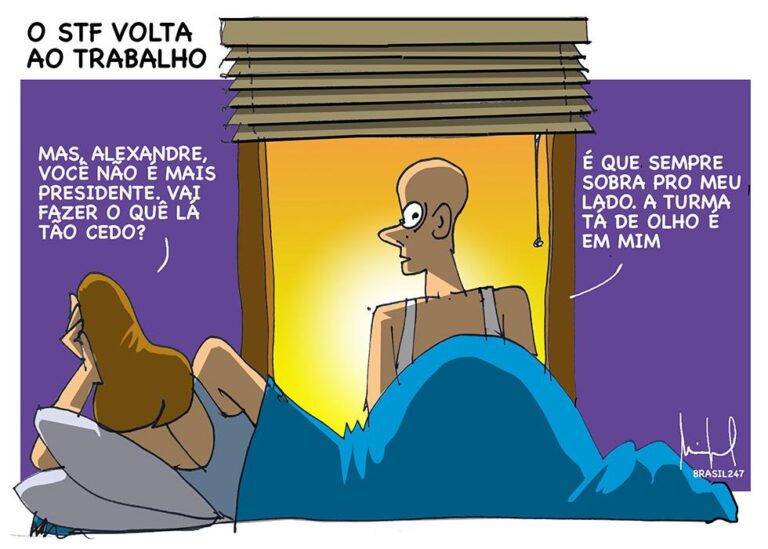Por Arlindenor Pedro – Professor de História, Filosofia e Sociologia, editor do Blog, Revista Eletrônica e canal Utopias Pós Capitalistas.
Por Arlindenor Pedro – Professor de História, Filosofia e Sociologia, editor do Blog, Revista Eletrônica e canal Utopias Pós Capitalistas.
Na manhã seguinte à chacina do dia 28 de outubro, no Rio de Janeiro, os números começaram a circular: Cento e vinte mortos até agora. Do lado dos favelados, a maioria esmagadora, jovens, negros ou pardos.
Do outro lado, entre os corpos fardados da força policial que ali atuou, também se repetia a mesma cor: O mesmo rosto mestiço, o mesmo destino de classe. O Brasil assistiu à sua própria guerra civil silenciosa. Uma guerra entre pobres, travada sob o olhar distante dos que mandam e lucram. Os que ficam nos escritórios confortáveis com ar condicionado.
No chão, jaziam os filhos e os instrumentos da mesma estrutura. Uns tombaram sem farda, outros atiraram com ela. Todos sob o mesmo peso do país que os fabrica para perecer. Pobres contra pobres, estes são os fatos!
A contagem dos mortos é o espelho que o Brasil evita encarar. Cento e vinte não são somente vítimas. São o retrato de um sistema que transforma a juventude negra em cifra, a favela em campo de tiro e a vida em custo operacional.
A contagem dos mortos é o espelho que o Brasil evita encarar. Cento e vinte não são somente vítimas. São o retrato de um sistema que transforma a juventude negra em cifra, a favela em campo de tiro e a vida em custo operacional.
São o saldo de uma economia de sangue, onde o valor de uma existência depende de sua utilidade para o mercado ou para a segurança do Estado. E é justamente aí que o conceito de valor revela sua crueldade. O capital só reconhece o humano enquanto ele produz ou consome. Fora desse circuito, a vida perde a medida, torna-se resto, despesa, corpo descartável.
Nas favelas, onde o trabalho formal é exceção e o corre corre é regra, o jovem negro é o avesso do homem econômico, aquele que age racionalmente, calcula lucros e acumula posses. Ele vive à margem dessa razão fria, numa economia de urgência e improviso. Para o sistema, é o “erro da planilha”, o que não se encaixa, o que sobra. E o que sobra pode ser eliminado sem culpa.
Mas essa guerra não é somente material. Ela atravessa o corpo e o rosto. O jovem favelado carrega na pele a marca de que o país não perdoa. Desde cedo, aprende que, para sobreviver, precisa vestir uma máscara branca sobre a sua pele negra, mestiça. Precisa disfarçar o tom de voz, o vocabulário, o cabelo, o endereço. Precisa parecer outro, porque ser ele mesmo é perigoso. Essa máscara é o preço da sobrevivência numa sociedade que finge não ser racista enquanto mata por reflexo. É a cicatriz de uma herança colonial que ainda dita quem é visto como gente e quem é somente alvo.
Do outro lado, o policial negro, mestiço, que aperta o gatilho não escapa da mesma armadilha. Ele é o guardião da fronteira entre o centro e a periferia, mas também seu prisioneiro. A farda que veste lhe concede poder, mas não o redime do estigma. O Estado o usa para conter os seus, transformando-o em executor da política que o exclui. Ele defende a riqueza, mas não pertence a ela. Assim, os dois lados do tiroteio se miram com medo e desespero, sem perceber que a bala que um dispara e o outro recebe é a mesma que atravessa a história do país. A de um país extremamente desigual!
A favela é o espaço onde o “homo sacer moderno” encontra forma concreta. É o território onde o direito se suspende e o Estado decide quem pode perecer. O jovem favelado é o corpo entregue à lei e, ao mesmo tempo, fora dela. Pode ser morto impunemente, porque sua morte não fere a ordem, a sustenta. Cada operação policial é uma repetição desse ritual. O Estado reafirma seu poder matando quem o ameaça simbolicamente — aqueles que lembram o país da miséria que ele prefere esquecer.
No entanto, a engrenagem da morte não gira sozinha. Sob ela, pulsa o trabalho invisível de outro personagem: as mulheres faveladas. São elas que recolhem os corpos, cuidam dos vivos, alimentam os vizinhos, organizam os protestos. Seu trabalho sustenta a continuidade da vida, de onde o valor já se retirou. E esse trabalho, justamente por ser feito fora do mercado, é o que a crítica do valor chama de trabalho dissociado: essencial, mas desvalorizado; vital, mas invisível. Enquanto o homem é lançado à morte pública, a mulher é empurrada para o sacrifício cotidiano. Uma morre de bala, a outra morre de cansaço.
Na economia moral da favela, essas mulheres são as verdadeiras gestoras do impossível. Elas transformam o nada em comida, a perda em luta, o luto em palavra. São o contrapeso humano de um mundo que se organiza para apagar a ternura. Mas o capital não reconhece o que não pode medir. O amor, o cuidado, o tempo dedicado ao outro — tudo isso está fora da lógica do valor. É o que o sistema precisa, mas não quer ver, porque ameaça a sua própria racionalidade.
O Brasil mata seus jovens e sobrevive porque suas mulheres negras insistem em reerguer os mortos pela memória. Cada mãe que grita o nome de um filho assassinado rompe a lógica do esquecimento e devolve à vida o que o mercado transformou em estatística. Nessas vozes, ecoa uma força que o Estado teme: A recusa de aceitar a morte como destino.
Quanto vale a vida de um jovem favelado no Brasil? Vale o preço da bala que o atravessa, o salário do policial que atira, a manchete que o reduz a suspeito. Mas também vale tudo o que o país perdeu ao permitir que isso se tornasse rotina: a sua própria alma. A vida desses jovens vale o infinito que o capital não sabe calcular, o cuidado das mulheres que resistem, o som dos tambores que insistem em celebrar o que resta.
Enquanto a favela continuar sendo o campo onde a morte é política e a sobrevivência é resistência, o Brasil não poderá se dizer humano. Porque a vida de um jovem favelado é, em última instância, o espelho em que o país se vê sem disfarce: negro contra negro, pobre contra pobre, e uma nação inteira pagando o preço de confundir valor com vida.
Nas favelas, onde o trabalho formal é exceção e o corre corre é regra, o jovem negro é o avesso do homem econômico, aquele que age racionalmente, calcula lucros e acumula posses. Ele vive à margem dessa razão fria, numa economia de urgência e improviso. Para o sistema, é o “erro da planilha”, o que não se encaixa, o que sobra. E o que sobra pode ser eliminado sem culpa.
Mas essa guerra não é somente material. Ela atravessa o corpo e o rosto. O jovem favelado carrega na pele a marca de que o país não perdoa. Desde cedo, aprende que, para sobreviver, precisa vestir uma máscara branca sobre a sua pele negra, mestiça. Precisa disfarçar o tom de voz, o vocabulário, o cabelo, o endereço. Precisa parecer outro, porque ser ele mesmo é perigoso. Essa máscara é o preço da sobrevivência numa sociedade que finge não ser racista enquanto mata por reflexo. É a cicatriz de uma herança colonial que ainda dita quem é visto como gente e quem é somente alvo.
Do outro lado, o policial negro, mestiço, que aperta o gatilho não escapa da mesma armadilha. Ele é o guardião da fronteira entre o centro e a periferia, mas também seu prisioneiro. A farda que veste lhe concede poder, mas não o redime do estigma. O Estado o usa para conter os seus, transformando-o em executor da política que o exclui. Ele defende a riqueza, mas não pertence a ela. Assim, os dois lados do tiroteio se miram com medo e desespero, sem perceber que a bala que um dispara e o outro recebe é a mesma que atravessa a história do país. A de um país extremamente desigual!
A favela é o espaço onde o “homo sacer moderno” encontra forma concreta. É o território onde o direito se suspende e o Estado decide quem pode perecer. O jovem favelado é o corpo entregue à lei e, ao mesmo tempo, fora dela. Pode ser morto impunemente, porque sua morte não fere a ordem, a sustenta. Cada operação policial é uma repetição desse ritual. O Estado reafirma seu poder matando quem o ameaça simbolicamente — aqueles que lembram o país da miséria que ele prefere esquecer.
No entanto, a engrenagem da morte não gira sozinha. Sob ela, pulsa o trabalho invisível de outro personagem: as mulheres faveladas. São elas que recolhem os corpos, cuidam dos vivos, alimentam os vizinhos, organizam os protestos. Seu trabalho sustenta a continuidade da vida, de onde o valor já se retirou. E esse trabalho, justamente por ser feito fora do mercado, é o que a crítica do valor chama de trabalho dissociado: essencial, mas desvalorizado; vital, mas invisível. Enquanto o homem é lançado à morte pública, a mulher é empurrada para o sacrifício cotidiano. Uma morre de bala, a outra morre de cansaço.
Na economia moral da favela, essas mulheres são as verdadeiras gestoras do impossível. Elas transformam o nada em comida, a perda em luta, o luto em palavra. São o contrapeso humano de um mundo que se organiza para apagar a ternura. Mas o capital não reconhece o que não pode medir. O amor, o cuidado, o tempo dedicado ao outro — tudo isso está fora da lógica do valor. É o que o sistema precisa, mas não quer ver, porque ameaça a sua própria racionalidade.
O Brasil mata seus jovens e sobrevive porque suas mulheres negras insistem em reerguer os mortos pela memória. Cada mãe que grita o nome de um filho assassinado rompe a lógica do esquecimento e devolve à vida o que o mercado transformou em estatística. Nessas vozes, ecoa uma força que o Estado teme: A recusa de aceitar a morte como destino.
Quanto vale a vida de um jovem favelado no Brasil? Vale o preço da bala que o atravessa, o salário do policial que atira, a manchete que o reduz a suspeito. Mas também vale tudo o que o país perdeu ao permitir que isso se tornasse rotina: a sua própria alma. A vida desses jovens vale o infinito que o capital não sabe calcular, o cuidado das mulheres que resistem, o som dos tambores que insistem em celebrar o que resta.
Enquanto a favela continuar sendo o campo onde a morte é política e a sobrevivência é resistência, o Brasil não poderá se dizer humano. Porque a vida de um jovem favelado é, em última instância, o espelho em que o país se vê sem disfarce: negro contra negro, pobre contra pobre, e uma nação inteira pagando o preço de confundir valor com vida.
E preciso deixar bem claro: Ao assassinar um jovem nas periferias, não se está matando o que ele é, ou mesmo o que ele foi. Está se matando, na verdade, o que ele poderia ser!