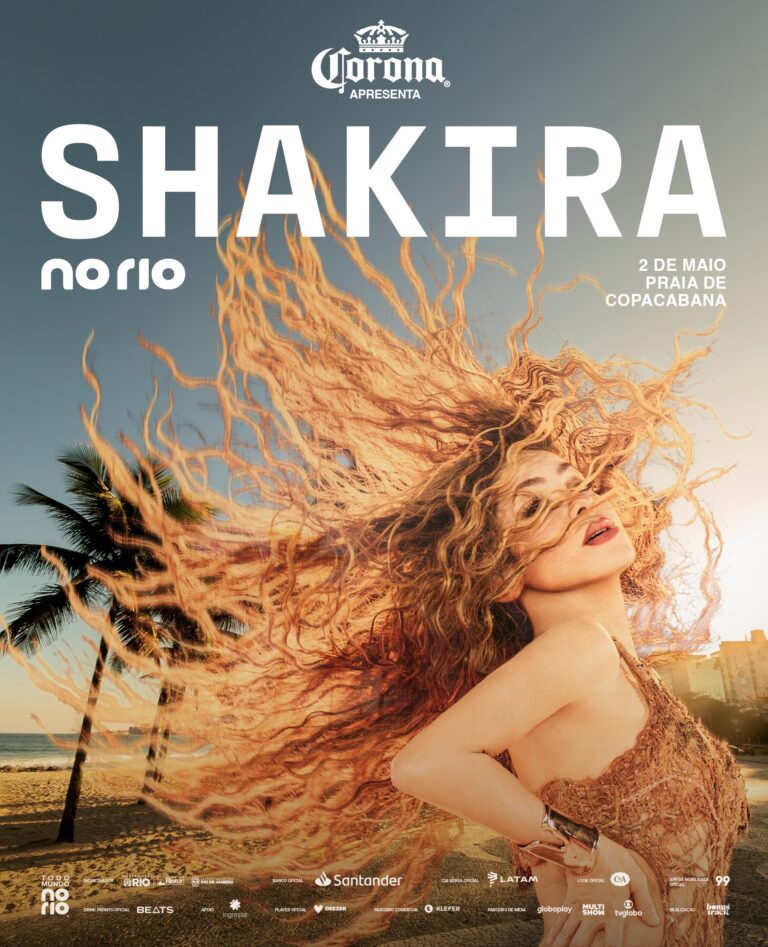Por Arlindenor Pedro – Arlindenor Pedro é professor de História, Filosofia e Sociologia, editor do Blog, Revista Eletrônica e canal YouTube Utopias Pós Capitalistas.
Por Arlindenor Pedro – Arlindenor Pedro é professor de História, Filosofia e Sociologia, editor do Blog, Revista Eletrônica e canal YouTube Utopias Pós Capitalistas.Desde fevereiro, participo dos encontros do curso Filosofia na Ópera, criado e conduzido pelo professor Luiz Carlos de Oliveira e Silva. São momentos deliciosos de reflexões sobre a vida através da arte. A proposta é simples e ousada: Escutar a música como quem lê filosofia.
Pensar o amor e suas formas de expressão, dominação e liberdade à luz de Platão, Spinoza e Heidegger, tendo como guia três grandes óperas: A Flauta Mágica, Tannhäuser e Carmen. Mas foi esta última, a obra de Bizet, que me deixou com uma inquietação que ainda reverbera.
Há em Carmen algo que vai além do drama passional, da rebeldia da cigana ou do ciúme do soldado. Há uma força ali que não se vê, mas se sente e que move a todos com autoridade silenciosa. Força que organiza o mundo por dentro. Uma lógica. Comando sem rosto. Estrutura que se chama valor.
Não se trata aqui do valor moral ou emocional, tampouco do valor enquanto medida subjetiva!
Não se trata aqui do valor moral ou emocional, tampouco do valor enquanto medida subjetiva!
O valor de que trato aqui é outro: É um princípio organizador das relações sociais modernas, abstrato e imperativo, que define o que deve existir, o que deve circular, o que deve ser desejado ou descartado. Não é visível, mas está em toda parte. Um critério impessoal que não nasce das vontades individuais, mas as molda. A lógica do valor é a espinha dorsal de um mundo onde tudo: corpos, gestos, ideias, afetos, pode tornar-se mercadoria.
Para Karl Marx, especialmente em sua obra madura, o valor é uma forma social histórica. É uma estrutura impessoal que emerge com o capitalismo e que passa a reger a vida dos indivíduos com uma lógica própria, autônoma, cega.
Para Karl Marx, especialmente em sua obra madura, o valor é uma forma social histórica. É uma estrutura impessoal que emerge com o capitalismo e que passa a reger a vida dos indivíduos com uma lógica própria, autônoma, cega.
Ao longo de sua trajetória teórica, Marx foi lentamente compreendendo que o capital não era somente uma relação entre classes, mas, antes, uma relação fetichista entre pessoas mediada por coisas. Apreendeu então que no coração desse processo estaria o valor: essa entidade que não tem corpo nem rosto, mas que age, comanda, decide. O verdadeiro sujeito automático da modernidade!
Fantástico, não? Nós então não seríamos, como pensamos, senhores absolutos de nossas atitudes. Seríamos fantoches, comandados à distância por esse “ser”, que criamos, mas que nos escraviza pela sua lógica incessante de se autorreproduzir ao infinito.
Segundo a releitura crítica de Marx feita por Robert Kurz, o valor seria então uma categoria fundante da forma social moderna, inseparável da forma-mercadoria, do trabalho abstrato e do dinheiro.
Fantástico, não? Nós então não seríamos, como pensamos, senhores absolutos de nossas atitudes. Seríamos fantoches, comandados à distância por esse “ser”, que criamos, mas que nos escraviza pela sua lógica incessante de se autorreproduzir ao infinito.
Segundo a releitura crítica de Marx feita por Robert Kurz, o valor seria então uma categoria fundante da forma social moderna, inseparável da forma-mercadoria, do trabalho abstrato e do dinheiro.
Trata-se-ia de um princípio ontológico negativo, historicamente situado, que emerge com o capitalismo e submete toda a reprodução social a uma lógica autonomizada, impessoal e fetichista. O capital, longe de ser mera relação de exploração entre classes, é então uma relação social fetichista entre coisas, um “sujeito automático” (Marx) cuja substância é o trabalho abstrato. Isto é: a forma social de gasto de energia humana reduzida à sua medida temporal, indiferente ao conteúdo concreto das atividades.
Ao ouvir as preleções do professor Luiz Carlos sobre a obra de Bizet, percebi que, na ópera Carmen, essa lógica fetichista está presente veladamente, porém determinante.
Ao ouvir as preleções do professor Luiz Carlos sobre a obra de Bizet, percebi que, na ópera Carmen, essa lógica fetichista está presente veladamente, porém determinante.
Ela se manifestaria como uma estrutura invisível que atravessa Carmen, Dom José, Escamillo e até o touro. Cada um desses personagens representaria, então, no plano estético, funções sociais dentro desta lógica da valorização do valor (Wertverwertung).
Dentro desta chave de leitura, Carmen, mulher livre, fora da lei, cigana e contrabandista, parece encarnar a liberdade absoluta. Move-se nas margens da legalidade, desafia normas, escolhe seus amantes, trafica e seduz. No entanto, sua aparente autonomia é ambígua. Na verdade, ocupa o que se poderia chamar de uma forma de nicho (Kurz), uma posição funcional na periferia da valorização, onde o capital precisa de zonas de exceção para continuar sua circulação. Embora situada à margem, Carmen é parte do sistema: Seus gestos e escolhas são mercadorias simbólicas, perfeitamente integradas ao circuito da troca. Sua dança é a coreografia (do valor em estado puro) deslocada, mas funcional. Não escapa à lógica dominante; somente a encena de forma mais exuberante. Ela representa a figura do sujeito dissociado. Não é simplesmente oprimida ou marginalizada, mas incorporada funcionalmente como alteridade necessária para a constituição da identidade masculina moderna.
Dentro desta chave de leitura, Carmen, mulher livre, fora da lei, cigana e contrabandista, parece encarnar a liberdade absoluta. Move-se nas margens da legalidade, desafia normas, escolhe seus amantes, trafica e seduz. No entanto, sua aparente autonomia é ambígua. Na verdade, ocupa o que se poderia chamar de uma forma de nicho (Kurz), uma posição funcional na periferia da valorização, onde o capital precisa de zonas de exceção para continuar sua circulação. Embora situada à margem, Carmen é parte do sistema: Seus gestos e escolhas são mercadorias simbólicas, perfeitamente integradas ao circuito da troca. Sua dança é a coreografia (do valor em estado puro) deslocada, mas funcional. Não escapa à lógica dominante; somente a encena de forma mais exuberante. Ela representa a figura do sujeito dissociado. Não é simplesmente oprimida ou marginalizada, mas incorporada funcionalmente como alteridade necessária para a constituição da identidade masculina moderna.
Carmen não trabalha no sentido do trabalho abstrato produtor de valor. A sua atividade (sedução, dança) é vista como não produtiva, e sua liberdade é interpretada como ameaça à ordem moral, social e econômica.
Já Dom José, o soldado, é a figura da ordem, da disciplina, da estabilidade. Sua queda começa quando abandona o papel funcional que ocupava na máquina social. Ele se perde, justamente, ao buscar o que não compreende: o desejo.
Já Dom José, o soldado, é a figura da ordem, da disciplina, da estabilidade. Sua queda começa quando abandona o papel funcional que ocupava na máquina social. Ele se perde, justamente, ao buscar o que não compreende: o desejo.
E, esse desejo, no fundo, também é moldado pelas formas da posse. José quer Carmen não como pessoa, mas como coisa rara. Seu ciúme é a angústia da propriedade ameaçada. Quando percebe que não pode mais a controlar, que ela escapa à lógica da apropriação, ele a destrói.
A morte de Carmen é, assim, menos um ato passional do que um gesto estrutural. É uma resposta violenta à impossibilidade de capturar plenamente o que circula fora das normas da troca garantida.
Podemos dizer então que a tragédia de Dom José é a do sujeito moderno em crise, que, confrontado com a dissociação, tenta ou assimilá-la pela força (possessividade) ou destruí-la (feminicídio). A incapacidade de lidar com o outro fora da lógica da dominação leva ao ato final de violência: matar Carmen para restaurar, ilusoriamente, a integridade perdida de seu eu.
Podemos dizer então que a tragédia de Dom José é a do sujeito moderno em crise, que, confrontado com a dissociação, tenta ou assimilá-la pela força (possessividade) ou destruí-la (feminicídio). A incapacidade de lidar com o outro fora da lógica da dominação leva ao ato final de violência: matar Carmen para restaurar, ilusoriamente, a integridade perdida de seu eu.
Carmen perece por recusar-se a ser apropriada, e, Dom José, destrói aquilo que não pode compreender ou integrar.
Já, Escamillo, o toureiro, é o contraponto de Dom José. Carismático, autoconfiante, admirado pelas massas, ele não precisa dominar Carmen por ciúme; ele a conquista por sua própria lógica de sedução performática. Escamillo é a figura do capital triunfante, estetizado, circulando em sua forma fetichista.Ele não é o trabalhador produtivo, mas o herói do espetáculo. É símbolo de um capitalismo que não mais se funda na produção, mas na circulação simbólica e na estetização da dominação. .. Representa o sujeito masculino que, ao invés de ruir diante da dissociação, a incorpora como parte de seu jogo, mas sempre mantendo a hierarquia: Carmen é um troféu, não uma igual.
Por último, temos aqui a figura do touro, um personagem importante da ópera, embora não apareça literalmente. Ele, embora silencioso, é um personagem central. Ele representa a natureza dissociada, a alteridade bruta que deve ser ritualisticamente dominada para que o sujeito se afirme. A tourada é um espetáculo de dominação simbólica da natureza e o toureiro é a figura do sujeito moderno que afirma sua superioridade ao controlar e matar aquilo que escapa à racionalidade.
Na cena final da ópera, Carmen e o touro se fundem simbolicamente: ambos são mortos na arena, espaço sagrado da reafirmação do poder masculino (patriarcado) e da ordem social. Carmen, como o touro, deve ser sacrificada para que a identidade do sujeito se mantenha. Seu assassinato não é somente pessoal: é estrutural, necessário à lógica da forma social.
Carmen, ao ser composta no final do século XIX, continua situada num tempo em que o capitalismo avançava, em que o valor ainda se expandia para novos territórios, absorvia novas formas de vida, ainda podia prometer progresso, ainda havia trabalho a ser explorado, novos mercados a conquistar.
Já, Escamillo, o toureiro, é o contraponto de Dom José. Carismático, autoconfiante, admirado pelas massas, ele não precisa dominar Carmen por ciúme; ele a conquista por sua própria lógica de sedução performática. Escamillo é a figura do capital triunfante, estetizado, circulando em sua forma fetichista.Ele não é o trabalhador produtivo, mas o herói do espetáculo. É símbolo de um capitalismo que não mais se funda na produção, mas na circulação simbólica e na estetização da dominação. .. Representa o sujeito masculino que, ao invés de ruir diante da dissociação, a incorpora como parte de seu jogo, mas sempre mantendo a hierarquia: Carmen é um troféu, não uma igual.
Por último, temos aqui a figura do touro, um personagem importante da ópera, embora não apareça literalmente. Ele, embora silencioso, é um personagem central. Ele representa a natureza dissociada, a alteridade bruta que deve ser ritualisticamente dominada para que o sujeito se afirme. A tourada é um espetáculo de dominação simbólica da natureza e o toureiro é a figura do sujeito moderno que afirma sua superioridade ao controlar e matar aquilo que escapa à racionalidade.
Na cena final da ópera, Carmen e o touro se fundem simbolicamente: ambos são mortos na arena, espaço sagrado da reafirmação do poder masculino (patriarcado) e da ordem social. Carmen, como o touro, deve ser sacrificada para que a identidade do sujeito se mantenha. Seu assassinato não é somente pessoal: é estrutural, necessário à lógica da forma social.
Carmen, ao ser composta no final do século XIX, continua situada num tempo em que o capitalismo avançava, em que o valor ainda se expandia para novos territórios, absorvia novas formas de vida, ainda podia prometer progresso, ainda havia trabalho a ser explorado, novos mercados a conquistar.
Carmen vive no tempo do capital ascendente, mesmo que com sua melodia trágica já anuncie o custo humano dessa ascensão.
Hoje, porém, vivemos outro momento: o momento da crise estrutural do valor. Após a terceira revolução tecnológica, o capital já percorreu quase todos os cantos do mundo, já integrou e destruiu formas sociais diversas, já extraiu tudo o que podia do trabalho humano. Com a automação, a financeirização e a perda da substância trabalho, o próprio valor entra em colapso. Já não se produz mais valor como antes, mas ainda se exige dinheiro, consumo, produtividade. Vivemos num mundo de dinheiro sem valor: papéis, dígitos, fluxos financeiros que já não correspondem à produção real, mas que seguem comandando vidas, definindo destinos, matando ou poupando.
A tragédia contemporânea é que o valor já não pode mais cumprir aquilo que prometeu. Ele se tornou um espectro que exige obediência, mesmo tendo perdido sua base. As mortes no Complexo do Alemão, os jovens ceifados no tráfico, os corpos descartáveis do mundo informal não são anomalias. São os efeitos diretos dessa crise de forma. O tráfico, como os contrabandistas de Carmen, opera à margem, mas sob o domínio total da lógica da mercadoria. Vidas geridas pelo preço, territórios definidos por armas, afetos atravessados pelo consumo. E tudo isso sem mais valor real, somente com a casca: o dinheiro nu, vazio, que comanda sem conteúdo.
Carmen, lida hoje, é mais do que uma história de amor e morte. É uma janela para a genealogia do nosso presente. No palco de Bizet, o valor ainda reina, mas como um Deus operante. No nosso mundo, ele já é um zumbi: destrói sem construir, exige sem oferecer.
Hoje, porém, vivemos outro momento: o momento da crise estrutural do valor. Após a terceira revolução tecnológica, o capital já percorreu quase todos os cantos do mundo, já integrou e destruiu formas sociais diversas, já extraiu tudo o que podia do trabalho humano. Com a automação, a financeirização e a perda da substância trabalho, o próprio valor entra em colapso. Já não se produz mais valor como antes, mas ainda se exige dinheiro, consumo, produtividade. Vivemos num mundo de dinheiro sem valor: papéis, dígitos, fluxos financeiros que já não correspondem à produção real, mas que seguem comandando vidas, definindo destinos, matando ou poupando.
A tragédia contemporânea é que o valor já não pode mais cumprir aquilo que prometeu. Ele se tornou um espectro que exige obediência, mesmo tendo perdido sua base. As mortes no Complexo do Alemão, os jovens ceifados no tráfico, os corpos descartáveis do mundo informal não são anomalias. São os efeitos diretos dessa crise de forma. O tráfico, como os contrabandistas de Carmen, opera à margem, mas sob o domínio total da lógica da mercadoria. Vidas geridas pelo preço, territórios definidos por armas, afetos atravessados pelo consumo. E tudo isso sem mais valor real, somente com a casca: o dinheiro nu, vazio, que comanda sem conteúdo.
Carmen, lida hoje, é mais do que uma história de amor e morte. É uma janela para a genealogia do nosso presente. No palco de Bizet, o valor ainda reina, mas como um Deus operante. No nosso mundo, ele já é um zumbi: destrói sem construir, exige sem oferecer.
Carmen perece, mas perece com sentido.
Hoje, perece-se no vazio. E, talvez por isso, Carmen continue a nos tocar: porque revela, em forma de música, o nascimento de um mundo cujo fim agora habitamos. E cujo senhor, o valor, ainda não foi destituído. Somente perdeu seu conteúdo, enquanto mantém sua forma como máscara da destruição.