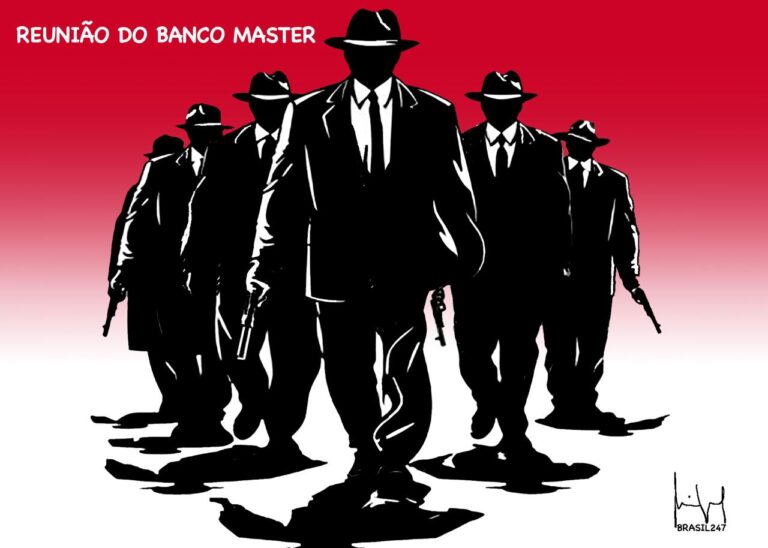Por Guilherme Fainberg – médico, com formação winnicottiana – Colunista convidado.
Por Guilherme Fainberg – médico, com formação winnicottiana – Colunista convidado.
Há palavras que atravessam a história do cinema e se transformam em mitos íntimos. Rosebud é uma delas.
No instante em que Charles Foster Kane, personagem principal, vivido por Orson Welles, no filme Cidadão Kane, morre, sua boca pronuncia esse nome, rosebud, como quem convoca um fantasma.
O trenó perdido na neve, simples, pobre, esquecido, torna-se a cifra de tudo o que não teve retorno, infância, calor, pertencimento, o brilho anterior à queda no mundo. Não é por acaso que, na trajetória de Cidadão Kane, quanto mais o protagonista acumula poder, riqueza e dureza, mais distante ele se encontra de si.
É como se o filme inteiro fosse a tentativa fracassada de decifrar essa última palavra que só o inconsciente consegue pronunciar.
A infância, como sugere Orson Welles, não é o que lembramos, mas o que nos falta. Rosebud não é apenas o trenó, é o nome do impossível. É a pequena chama que se apaga quando o sujeito aprende a sobreviver. É aquilo que Winnicott chamaria de “o gesto espontâneo interrompido”, a verdadeira essência do self, que, por não encontrar acolhimento suficiente, recua para uma caverna interna, onde permanece viva, mas inacessível.
A criança que Kane foi ainda o observa, mas ele já não a escuta. Fernando Pessoa escreve que “a criança que fui chora na estrada”, como se confessasse que o passado não passa, que a primeira dor é sempre a que retorna, que a primeira alegria é a que buscamos desesperadamente reencontrar.
Mas talvez a criança não morra, talvez seja o adulto que deixa de compreender sua língua.
O psicanalista húngaro, Sándor Ferenczi, no texto sobre a “confusão de línguas”, lembrava que o adulto, para sobreviver, às vezes, precisa trair a criança que carrega dentro, não porque queira, mas porque precisou. A dureza de Kane não é arrogância, é defesa. É o resultado de uma vida que, muito cedo, deixou de ser brincável. Quando o menino é apartado de casa, arrancado da mãe, lançado à promessa de um futuro brilhante, perde-se não apenas um trenó, mas o espaço psíquico onde o amor podia ser recebido sem medo.
O psicanalista inglês, Donald Winnicott insistia que “não existe bebê sem ambiente”, e Kane é, precisamente, o sujeito que, privado de um ambiente suficientemente bom, tenta reconstruir o mundo externo como fortaleza. Seus castelos, mansões, coleções e jornais constituem tentativas desesperadas de criar, artificialmente, o que não teve, organicamente. O profissional poderoso é , geralmente, a sombra da criança que não pôde existir por inteiro.
Arnold Jekobson dizia que a nostalgia é “uma ferida que se recusa a cicatrizar”, e rosebud se inscreve exatamente nesse lugar. É o sintoma de um mundo psíquico que se rompeu cedo demais. O objeto infantil retorna como signo do que o sujeito ainda não conseguiu elaborar. Rosebud não é o passado, é a dor do passado.
Clarice Lispector, em sua precisão selvagem, diria que a infância é aquilo que “nos olha como um espelho que não devolve a nossa imagem, mas a nossa alma”. E é essa alma que Kane tenta comprar, dominar, sufocar, sem jamais reencontrar. Os salões de Xanadu, grotescos, vazios, megalômanos, são exatamente isso, a arquitetura absurda de um sujeito que perdeu o eixo do brincar.
O brincar, para Winnicott, não é frivolidade, é a base da existência criativa. O mundo interno da criança só floresce se houver espaço para o gesto espontâneo, para o faz de conta, para a ilusão compartilhada. Sem isso, instala-se uma cisão que o adulto carregará como marca. Kane é o homem que brincou pela última vez na neve, antes de ser separado de tudo.
Ele nunca mais recupera o corpo lúdico, apenas simula vitalidade através do poder. E há, no filme, uma dor ainda mais funda, ninguém consegue narrar a infância de Kane. Cada personagem oferece um fragmento, uma versão lacunar, uma interpretação distorcida. Quando a Infância não encontra continuidade, o eu perde sua narrativa.
Como dizia Winnicott, “o verdadeiro self, quando não encontrado, permanece escondido, vivendo uma existência secreta”. E, assim, Kane viveu, enorme por fora, clandestino por dentro.A psicanálise, quando ousa escutar, encontra rosebuds em todos os consultórios. São pequenos restos, objetos aparentemente banais, memórias mínimas, mas que guardam uma temperatura decisiva. Às vezes é o cheiro de um pão, outras vezes, a voz longínqua de alguém chamando da cozinha, em certos casos, um brinquedo esquecido em uma gaveta. Em Kane, foi o trenó. Em cada rosebud, há uma súplica, “não me deixe para trás”.
Clarice Lispector dizia que escrever é “procurar a infância perdida, mas com as mãos de adulto”.
E talvez o nosso trabalho, seja na clínica, seja na escrita, seja na vida, seja justamente esse, o de nos aproximar da infância sem tentar possuí-la. Porque ela não volta. A infância não retorna, mas se insinua. Ela não se restaura, mas se reapresenta. É uma vibração que nos acompanha. Como uma música remota que atravessa paredes, surpreendendo-nos não porque lembramos dela, mas porque ela lembra de nós.
Quando rosebud é finalmente queimado com tantos outros objetos que ninguém considerou importantes, o trenó retorna ao fogo, à origem, ao que arde sem forma. É uma imagem insuportável porque revela uma verdade psíquica, a infância não pode ser colecionada. Não há museu capaz de guardá-la. O que se guarda é o trauma, o desejo, a falta.
Mas, embora a infância não possa ser recuperada, pode ser escutada. Ferenczi diria que o analista empresta ao paciente uma mãe temporária, alguém capaz de traduzir de novo a línguagem da criança ferida.
Talvez, ao escutarmos essa infância com delicadeza, alguma coisa reencontre sua tessitura. Não é um retorno, é um recomeço.
Fernando Pessoa escrevia que “somos todos estrangeiros da nossa infância”. E talvez seja isso que torna rosebud um mito universal. Cada um carrega seu próprio trenó queimado. Aquilo que se perdeu, não por esquecimento, mas por excesso. O que não pôde ser vivido inteiramente e, por isso mesmo, não cessa de reclamar o lugar.
Ao final de Cidadão Kane, não descobrimos quem ele foi, descobrimos apenas o quanto ele perdeu, ao tentar ser o que esperavam dele. E, talvez, este seja sempre o destino de quem corta a própria infância para caber no mundo.
A infância permanece como esse avesso pulsante. Uma zona de neve guardada em algum lugar do corpo, à espera de que um gesto, uma análise, um acaso, um amor, uma palavra, devolva-lhe a possibilidade de existir, ainda que por um instante. Não se trata de voltar a ser criança, mas de permitir que ela nos impeça de sermos completamente de pedra. Rosebud, afinal, não é o que era, é o que ainda dói.