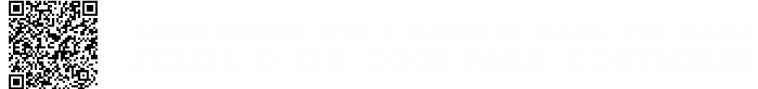JP – Olá Paula! Você poderia comentar sobre o Spectrum? O que é? Objetivos? Ações?
O Spectrum é uma experiência cênica que convida as crianças neurodivergentes para brincar, para o jogo, para fazer e fruir teatro. É pensado especialmente para crianças autistas, com deficiência intelectual e para aquelas que têm outros tempos e modos de estar no mundo.
Essa proposta nasce das nossas vivências como professores e artistas e se baseia na metodologia do Relaxed Performance, que modifica a estrutura e o funcionamento do espaço teatral para acolher cada criança, cada corpo com deficiência, com suas necessidades e singularidades.
No Spectrum, o espectador não é aquele observador passivo e silencioso que a gente imagina no teatro tradicional. Aqui, a criança-espectadora é ativa, é protagonista da cena.
JP – Qual o principal motivo de trabalhar com as crianças neurodivergentes?
Eu optei por trabalhar com crianças neurodivergentes primeiro porque eu também sou neurodivergente, e muitos dos meus amigos que estão em cena também vivem essa perspectiva. Mas o motivo principal veio da minha experiência como professora de crianças autistas, muitas delas não verbais, que precisavam se regular por meio de movimentos e sons.
Nesses espaços, o que eu via era o contrário: era o ‘fica quieto, cala a boca, não faz isso’. E as famílias, envergonhadas, acabavam achando que o corpo da criança estava incomodando. Então, eu pensei: como trazer essa criança para o teatro sendo quem ela é?
Porque se a gente imagina um espetáculo todo baseado num texto longo, e alguém precisa se regular fazendo movimentos e sons constantes, muitas vezes o ator não está preparado para isso e o público também não. O Spectrum nasce para ser esse espaço, onde cada pessoa possa ser quem é, se expressar da forma que precisa e, ao mesmo tempo, fruir da arte e da cultura, que são direitos de todos
JP – Como você pensa a relação entre a criança , a deficiência e e as artes?
Em 2023, eu e o Juca Rodrigues apresentamos num congresso na Sérvia um trabalho chamado Pode a criança falar?, justamente sobre ouvir o que a criança tem a dizer sobre os espaços que ocupa, sobre arte e cultura.
E é interessante perceber como a infância, muitas vezes, vira campo de disputa política e religiosa. Em campanha eleitoral, todo mundo coloca uma criança no colo, mas na prática não há investimento consistente em educação, nem em políticas culturais para a infância.
Isso aparece em detalhes simples: raramente um teatro tem banheiro na altura de uma criança, placas de sinalização que ela consiga ler ou elementos que garantam autonomia. Se já falta política cultural para as infâncias em geral, para a criança com deficiência essa negligência é ainda maior.
Essas crianças vivem uma rotina exaustiva de terapias, e os espaços de arte e cultura, que deveriam ser direito, acabam se tornando barreira. Muitas vezes, quando chegam a esses lugares, enfrentam olhares, agressões simbólicas e exclusões.
Então, quando eu penso na relação entre criança, deficiência e artes, eu vejo um campo enorme a ser construído no Brasil um campo de escuta, de políticas públicas e de criação de espaços que realmente acolham essas infâncias.
JP – Como se deu a sua formação no campo das artes cênicas?
Eu sou formada em bacharelado em Direção Teatral pela Universidade Federal de Ouro Preto, tenho licenciatura em Teatro e sou doutora em Artes Cênicas pela Universidade do Estado de Santa Catarina.
Na infância, eu vivi em uma cidade muito pequena em Minas Gerais, com cerca de oito mil habitantes. Só fui conhecer um teatro, com palco, plateia e toda aquela estrutura, já na adolescência, quase jovem. Até então, meu contato com as artes cênicas era pela experimentação com colegas de escola, inventando espetáculos.
Naquele tempo, não havia ninguém na minha cidade com a formação que eu tenho hoje. Por isso, eu valorizo muito as formas que as artes cênicas assumem na cultura popular e no circo, que muitas vezes são os primeiros contatos de uma criança com o teatro. Mas a minha formação acadêmica, que me forjou profissionalmente, só chegou mais tarde, já na universidade.
E tem uma curiosidade no meu caminho. Eu passei no vestibular para Engenharia Civil e cheguei a cursar até o sexto semestre. Em Ouro Preto, alguns laboratórios da Engenharia funcionavam no prédio da Escola de Minas, bem em frente ao Museu da Inconfidência, no centro da cidade.
Um dia, eu estava num laboratório de prática quando ouvi barulhos vindos da sala de cima. Os saltos e os movimentos de lá atrapalhavam os resultados do nosso experimento, e havia até uma rixa entre os cursos por causa disso. Resolvi subir para conversar e tentar resolver a situação. E foi assim: eu entrei naquela sala… e nunca mais saí.
JP – É possível realizar um teatro que valoriza a acessibilidade em todos os sentidos? Explique um pouco esse conceito.
Olha, fazer um espetáculo que abarque acessibilidade em todos os sentidos é um grande desafio. Eu acredito que é possível pensar em muitas formas de acessibilidade, mas nunca em um padrão único — porque se eu crio um padrão, já estou excluindo quem não cabe nele. Então, o caminho é propor diferentes modos de fruição e não esperar uma única leitura do trabalho.
O artista que opta por não pensar em acessibilidade, ele está ciente dessa escolha. Hoje é difícil encontrar quem ignore totalmente o tema, mas muitas vezes a acessibilidade é vista só como rampa ou intérprete de Libras. E aí, imagina um espetáculo com muito texto: o intérprete fica num cantinho iluminado e a pessoa surda precisa escolher entre acompanhar a cena ou seguir a tradução. A experiência estética se perde. Então, a questão é: como criar para que a experiência seja, de fato, acessível também poeticamente?
Eu gosto de lembrar um episódio. Fiz um trabalho em que pensamos em várias formas de acessibilidade. No final, distribuímos biscoitos como parte da cena. Uma criança chegou para mim e perguntou: ‘É sem glúten?’ Eu disse que não, e ele respondeu: ‘Sou celíaco’. Ou seja, falhei na acessibilidade dele. Isso me fez perceber o quanto precisamos ampliar o olhar.
E tem um pensamento que eu ouvi de Edu Ó: se você entrega quinze mil reais na mão de um artista com deficiência, ele vai criar um espetáculo esteticamente acessível dentro das suas possibilidades, porque ele vive isso na pele. Já uma pessoa sem deficiência, muitas vezes, vai dizer que esse mesmo valor é insuficiente para garantir acessibilidade. Então, é também uma questão de perspectiva e de comprometimento.
JP – Como você define a estética da inclusão?
Parto do Manifesto Anti-Inclusão de Estela Lapponi, que afirma: ‘Arte e Inclusão estão na contramão’. Esse texto nos provoca a pensar que, mesmo dentro dos movimentos que lutam pela participação plena, existe um debate em torno da própria palavra inclusão.
Lapponi propõe uma oposição entre ‘arte’ e ‘inclusão’ a partir de uma análise semântica, evidenciando as tensões que o termo carrega. Ao mesmo tempo, conheço pesquisadoras que defendem a permanência da palavra inclusão, justamente porque, em áreas como a educação, ela ainda é o termo que possibilita o reconhecimento de direitos. Para essas pesquisadoras, abandonar o termo neste momento poderia dificultar a fruição de pessoas com deficiência, já que levaria tempo até que um novo vocabulário fosse compreendido e legitimado socialmente.
Ou seja, existe uma fricção: de um lado, o movimento que rejeita a palavra pela carga excludente que ela pode conter; de outro, o movimento que entende sua utilidade prática no presente. Eu compreendo ambos os lados.
O que me parece central é reconhecer que a presença dos corpos com deficiência na cena fomenta outras estéticas. Esses corpos trazem rupturas, inovações e propostas que um corpo normativo, sem essa experiência, dificilmente conseguiria elaborar. Por isso, penso que devemos olhar para esse movimento como potência criativa como uma força transformadora que amplia as possibilidades da arte
JP – Qual é a metodología utilizada no Spectrum?
Eu realizei pesquisas realizadas de forma autônoma sobre a Relaxed Performance, surgida no Reino Unido na década de 1990 e atualmente muito praticada também na Nova Zelândia e no Canadá. Entretanto, não seguimos essa metodologia ao pé da letra.
Na Relaxed Performance tradicional, o espaço físico do teatro já oferece as adaptações necessárias. O público recebe, antecipadamente, um guia com fotos do local, do formato das cadeiras e de todos os detalhes do espaço e do espetáculo. No caso do Spectrum, como não dispomos de uma sede fixa, optamos por enviar um guia de previsibilidade das cenas. Nesse material, a criança e seus cuidadores encontram fotos do elenco, a identificação dos bonecos e a forma como cada elemento aparece ao longo da encenação.
Além disso, buscamos integrar características próprias da cultura brasileira, marcada pela coletividade e pelo brincar, que se mostram em si acessíveis e acolhedoras. Assim, ainda que utilizemos o teatro de sombras, não somos especialistas na técnica nem reproduzimos a Relaxed Performance em sua forma original. Adaptamos a metodologia para atender ao nosso contexto e ao nosso público.
JP – como é trabalhar com uma equipe que tem em seu staff pessoas com deficiência? Conte um pouco de como funciona essa dinâmica.
É engraçado pensar nessa pergunta, porque quando eu montei a equipe eu nunca pensei na deficiência, eu pensei na eficiência de cada pessoa, por serem pessoas próximas que eu admirava e queria aproximar do trabalho.
No caso do César Rossi, foi a eficiência dele em resolver problemas, em criar soluções, em estar junto na investigação estética e poética. Com a Cris, eu pensei na eficiência dela em levantar estudos, em provocar reflexões a partir da palhaçaria, e no quanto isso poderia colaborar para o trabalho.
Quando convidei o Bernardo, foi pela sensibilidade dele como espectador, pela forma como se comprometeu e se tornou parceiro. A eficiência dele está na escuta, na colaboração e nessa sensibilidade que ele traz para o debate.
Então, de verdade, eu nunca pensei nas deficiências, mas sim nas potências de cada um. Essa pergunta até me pegou de surpresa, porque a escolha sempre foi pelo que cada pessoa traz de mais forte para a criação.
Mas, respondendo a pergunta, é sobre ‘como a gente organiza o trabalho para que todas as pessoas possam trabalhar’. Isso pede jogo de cintura. Eu preciso de muita flexibilidade para lidar com as barreiras que cada um enfrenta – e as minhas barreiras — são outros tempos e outros modos de estar no mundo. Eu penso, por exemplo, que precisamos ter no grupo uma pessoa para me ajudar com os textos, pois essa é minha principal barreira pela dislexia.
Na prática, às vezes assinar um documento para um edital leva sete dias. Às vezes alguém entra em crise e eu preciso esperar a crise passar e lidar com o dia seguinte da crise, que é tão pesado quanto. Então a gestão de tempo muda: a gente alonga prazos, redistribui tarefas e acolhe as variações.
Tecnicamente, o espetáculo também se adapta: posso colocar a mesa de luz no palco, buscar parcerias para montar a luz em varas fixas, pensar previsibilidade de deslocamentos e rotas simples de circulação. É sobre compreender o outro, e não exigir uma linearidade normativa.
É um grupo com pessoas neurodivergentes e pessoas com deficiência as duas marcas importam. O que sustenta tudo é ajuste contínuo e compreensão. Quando a gente trabalha assim, a criação fica mais ética e mais potente.
Eu tento, mas tenho que aprender todo dia.
JP – Quais são os seus projetos futuros
Projetos para o futuro… Eu pretendo fazer um pós-doutorado, porque no Brasil não existe a função de pesquisador como profissão, mas eu me entendo nesse lugar. E o pós-doc, com uma bolsa, seria uma forma de ter uma remuneração fixa para seguir pesquisando a prática que eu desenvolvo.
Mas o meu grande desejo é estar em cartaz por mais tempo. Ter uma temporada prolongada do Spectrum, um tempo que eu gosto de chamar de ‘prazo neurodivergente’. Porque hoje eu preciso ir até as famílias e instituições, fazer convites, insistir para que venham, já que muitas vezes esses corpos não chegam espontaneamente aos espaços culturais.
Então, para mim, o futuro é isso: continuar aprimorando a linguagem e a acessibilidade, mas também poder permanecer em cartaz tempo suficiente para que as pessoas cheguem de forma orgânica e entendam que o teatro também pertence a elas