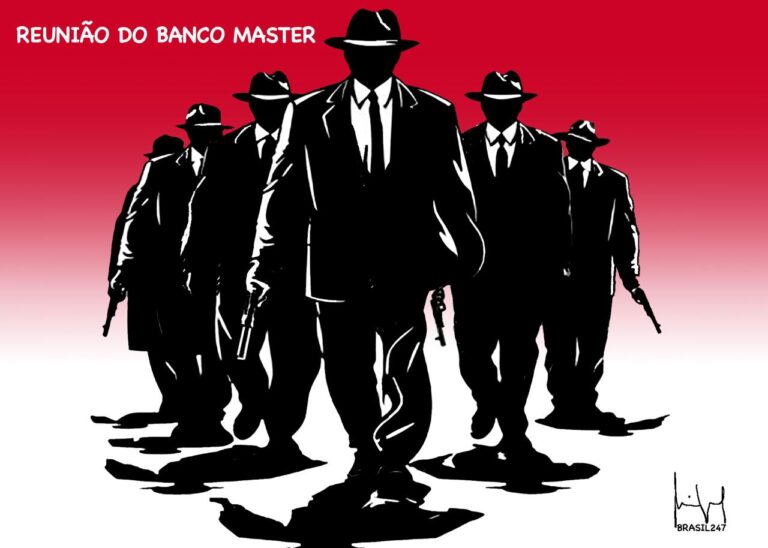Por Arlindenor Pedro – Professor de História, Filosofia e Sociologia, editor do Blog, Revista Eletrônica e canal YouTube Utopias Pós Capitalistas.
Por Arlindenor Pedro – Professor de História, Filosofia e Sociologia, editor do Blog, Revista Eletrônica e canal YouTube Utopias Pós Capitalistas.Vivemos um colapso energético travestido de debate técnico. A temperatura média do planeta se eleva ano após ano, sistemas hídricos entram em colapso, a desertificação avança e a queima de combustíveis fósseis segue como espinha dorsal da matriz produtiva global. A chamada transição energética, tão evocada em relatórios e cúpulas, ainda não encontrou sua forma histórica real.
Em seu lugar, temos um impasse que expressa não somente uma crise ambiental, mas uma tragédia energética estrutural: o capitalismo depende da energia fóssil para manter seu metabolismo, mas o próprio uso dessa energia mina as condições de vida no planeta.
É neste contexto que a COP30, realizada em Belém do Pará, apresentou ao mundo o “Mapa do Caminho”:um plano para mobilizar ao menos US$ 1,3 trilhão por ano até 2035 para financiar ações climáticas em países em desenvolvimento. Seu objetivo declarado é viabilizar uma transição para economias de baixo carbono, garantir a adaptação a eventos extremos e estruturar formas de justiça climática financeira.
É neste contexto que a COP30, realizada em Belém do Pará, apresentou ao mundo o “Mapa do Caminho”:um plano para mobilizar ao menos US$ 1,3 trilhão por ano até 2035 para financiar ações climáticas em países em desenvolvimento. Seu objetivo declarado é viabilizar uma transição para economias de baixo carbono, garantir a adaptação a eventos extremos e estruturar formas de justiça climática financeira.
A proposta, formulada conjuntamente pelas presidências da COP29 (Baku) e COP30 (Belém), foi recebida com entusiasmo técnico e ceticismo político. O resultado é que ela foi rejeitada e não foi incluída no documento final da Conferência, tendo em vista que não era consensual. Mas, obviamente, mesmo que o Mapa do Caminho tenha sido rejeitado, sabemos de sua importância. E sabemos também que ele guiará os debates para muitos nos próximos anos. Mas, afinal, o que revela este documento? E, mais importante, o que ele escamoteia?
Para responder, é necessário situar o Mapa do Caminho no quadro mais amplo das três grandes respostas contemporâneas à crise energética planetária. São elas:
A gestão adaptativa do capital verde.
Esta é a posição assumida pelas instituições multilaterais, organismos técnicos e coalizões de Estados desenvolvimentistas. O mapa do Caminho é sua expressão mais sofisticada. Nela, reconhece-se que o mundo está em crise, mas aposta-se em sua superação por meio da reorientação de fluxos de investimento, da reforma do sistema financeiro internacional e da ativação de mecanismos de mercado para mitigar o desastre.
Para responder, é necessário situar o Mapa do Caminho no quadro mais amplo das três grandes respostas contemporâneas à crise energética planetária. São elas:
A gestão adaptativa do capital verde.
Esta é a posição assumida pelas instituições multilaterais, organismos técnicos e coalizões de Estados desenvolvimentistas. O mapa do Caminho é sua expressão mais sofisticada. Nela, reconhece-se que o mundo está em crise, mas aposta-se em sua superação por meio da reorientação de fluxos de investimento, da reforma do sistema financeiro internacional e da ativação de mecanismos de mercado para mitigar o desastre.
A natureza contínua sendo tratada como ativo, o carbono como passivo monetizável, e a floresta como estoque de compensações. O capital é mantido, mas “verificado”. O problema, neste modelo, não é a forma social, mas sua má gestão.
A manutenção da matriz fóssil sob a negação ou o cinismo estratégico.
Representada por Estados macroeconômicos como Arábia Saudita e Rússia, por setores negacionistas como os EUA e por grandes corporações de energia, esta linha defende a continuidade da extração e queima de combustíveis fósseis como “necessária”, “realista” ou “inevitável”.
A manutenção da matriz fóssil sob a negação ou o cinismo estratégico.
Representada por Estados macroeconômicos como Arábia Saudita e Rússia, por setores negacionistas como os EUA e por grandes corporações de energia, esta linha defende a continuidade da extração e queima de combustíveis fósseis como “necessária”, “realista” ou “inevitável”.
Na COP30, essa posição impôs-se na retirada do termo “phase out” dos documentos finais. O Mapa do Caminho, ao evitar menções explícitas aos fósseis, mostra que sua própria formulação já nasceu condicionada a esse veto geopolítico. Trata-se da defesa da valorização capitalista imediata, sem mediações verdes, ainda que ao custo do colapso.
A crítica radical da forma de vida capitalista. Este campo, minoritário e disperso, não tem representação diplomática nem protagonismo institucional. Surge nas margens — em assembleias populares, comunidades indígenas, críticas teóricas não reformistas. Aqui, a crise energética não é vista como problema de gestão, mas como expressão do próprio modo de produção. Propõe-se não transitar de matriz energética, mas socialmente. Romper com o valor, com a mercadoria, com o trabalho abstrato. O Mapa do Caminho, nessa visão, é parte do problema: ele tenta governar a catástrofe com os mesmos instrumentos que a produziram.
A análise do Mapa do Caminho, portanto, revela sua ambivalência. Por um lado, reconhece a urgência climática, propõe metas financeiras significativas e inclui termos como “transição justa” e “acesso equitativo ao financiamento”. Por outro lado, é dependente do capital privado, mediado por instrumentos de dívida, moldado pela arquitetura financeira que perpetua a desigualdade e esvaziado de força normativa real. Seu foco na mobilização de recursos não altera as determinações estruturais da acumulação.
O Mapa do Caminho é um documento da tentativa de adaptação do capital à escassez planetária. Ele não rompe com a lógica que transforma natureza em ativo e tempo em rentabilidade. Tampouco confronta as estruturas de dominação norte-sul que sustentam a dívida ecológica. Está preso entre o cinismo dos que negam a crise e a ausência de alternativa prática por parte dos que querem superá-la radicalmente.
É possível que sirva, no curto prazo, para abrir espaço fiscal e canalizar recursos para projetos pontuais. Mas não haverá verdadeira transição se ela for mediada por um sistema que só reconhece valor quando pode extrair mais-valia. O colapso não será evitado por um roteiro de investimentos, mas por uma ruptura com a própria forma de reprodução social que nos trouxe até aqui. E essa ruptura ainda não foi mapeada.
A fragilidade do Mapa do Caminho não reside somente em suas lacunas técnicas ou em sua falta de obrigatoriedade. Suas limitações são mais profundas e estruturais, ancoradas nas próprias condições históricas e institucionais que o moldam. Há, pelo menos, quatro barreiras centrais que impedem que essa iniciativa se torne uma resposta efetiva ao colapso ambiental em curso.
A primeira barreira é a mediação pelo capital privado. A meta de US$ 1,3 trilhão por ano até 2035 depende, em larga medida, da disposição de investidores institucionais, bancos multilaterais e mercados de capitais para canalizarem recursos para ações climáticas. Isso implica que o financiamento da transição está subordinado à lógica do lucro, à rentabilidade dos projetos, à previsibilidade jurídica e ao retorno sobre o investimento. Não se trata de reconstruir o mundo, mas de transformá-lo em um portfólio atraente para fundos de pensão e bancos de investimento. O risco climático é internalizado não como imperativo ecológico, mas como variável financeira.
A segunda barreira é a reprodução da arquitetura da dívida. Apesar de reconhecer a necessidade de instrumentos “não endividados” e “concessões”, o Mapa do Caminho não rompe com o regime de endividamento estrutural dos países do Sul global. Os fluxos de financiamento continuam a ser condicionados por exigências de ajuste fiscal, garantias e metas de desempenho. O paradoxo é evidente: espera-se que países profundamente afetados por desastres climáticos e colapsos econômicos invistam pesadamente em mitigação e adaptação sem que lhes seja permitido escapar das amarras do serviço da dívida. A lógica da financeirização da crise continua intacta.
A terceira barreira é a inexistência de mecanismos vinculantes. O Mapa do Caminho é uma proposta, não um tratado. Ele não impõe obrigações jurídicas, não prevê sanções, não define responsabilidades proporcionais entre emissores históricos e países vulneráveis. É um roteiro voluntário, e como tal, depende da boa vontade dos atores que justamente têm mais a perder com a transição: os que lucram com a continuidade da matriz fóssil e da destruição ambiental. Isso significa que, mesmo que a meta de financiamento seja formalmente acordada, nada garante que os fluxos ocorram de forma contínua, equitativa ou eficaz.
A quarta barreira é de ordem mais profunda: o caráter estrutural da crise ecológica. O Mapa do Caminho pressupõe que a crise possa ser resolvida sem transformar as formas fundamentais de mediação social do capitalismo. Ele opera com a crença de que o mundo pode continuar sendo movido por crescimento econômico, inovação tecnológica e rentabilidade de mercado — somente com uma matriz energética mais limpa. Mas o problema não é somente o carbono, é o modo como o capital organiza a produção, o tempo, o espaço e a vida. Sem romper com a lógica do valor, da mercadoria e da concorrência generalizada, todas as transições serão superficiais, e os custos ecológicos serão somente deslocados.
Portanto, o Mapa do Caminho não é propriamente uma farsa, mas uma tentativa incompleta e contraditória de salvar um mundo em ruínas sem tocar na forma que o arruinou. Ele busca mobilizar recursos sem transformar o fundamento social da devastação. E assim, talvez consiga adiar sintomas, mas não evitar o colapso. A verdadeira transição energética não será comandada por fóruns financeiros, mas por uma ruptura histórica ainda por vir. Uma ruptura que coloque no centro não o investimento, mas a vida. Não o retorno, mas a regeneração. Não o mapa, mas o caminho que ainda precisa ser inventado.
Talvez o verdadeiro Mapa do Caminho ainda esteja por ser traçado :não como instrumento financeiro, mas como horizonte civilizatório. Um mapa que não mire a conversão do carbono em ativos, mas a reconexão entre humanidade e natureza fora das formas fetichistas da mercadoria, do trabalho abstrato e do dinheiro. Um mapa que reconheça a Terra não como estoque, mas como condição comum de existência. Para isso, será necessário romper com os vínculos estruturais que organizam o mundo como mercado, o tempo como produtividade, o espaço como fronteira de extração e a vida como recurso. Este outro caminho não será fruto de conferências, mas de insubmissões cotidianas, de reapropriações do tempo e do comum, de práticas sociais que escapem ao automatismo da valorização. Somente assim se poderá vislumbrar uma sociedade onde o valor não seja o centro, mas a vida:plural, concreta, irrepetível.
Mas mesmo esse novo mapa, por mais necessário que seja, não poderá apagar o que já foi feito. O mal está consumado. As espécies extintas não voltarão, os solos envenenados não se regeneram por decreto, os ciclos climáticos desfeitos não retornam à ordem anterior. A devastação imposta pelo capitalismo é, na maioria, irreparável. Não se trata mais de restaurar um equilíbrio perdido, mas de criar formas de vida viáveis num mundo transformado pela catástrofe. É neste terreno instável que a humanidade terá de reinventar-se e, talvez, a única saída esteja naquilo que o próprio capital sempre tentou sufocar: a criatividade coletiva, a solidariedade concreta, a recusa ativa à dominação e o cultivo de laços que não se medem em cifras. Não é, somente, tentar salvar o planeta, mas, sim, refazer o humano fora da lógica que quase o destruiu. O futuro, se houver, será obra da negação e da imaginação.
A crítica radical da forma de vida capitalista. Este campo, minoritário e disperso, não tem representação diplomática nem protagonismo institucional. Surge nas margens — em assembleias populares, comunidades indígenas, críticas teóricas não reformistas. Aqui, a crise energética não é vista como problema de gestão, mas como expressão do próprio modo de produção. Propõe-se não transitar de matriz energética, mas socialmente. Romper com o valor, com a mercadoria, com o trabalho abstrato. O Mapa do Caminho, nessa visão, é parte do problema: ele tenta governar a catástrofe com os mesmos instrumentos que a produziram.
A análise do Mapa do Caminho, portanto, revela sua ambivalência. Por um lado, reconhece a urgência climática, propõe metas financeiras significativas e inclui termos como “transição justa” e “acesso equitativo ao financiamento”. Por outro lado, é dependente do capital privado, mediado por instrumentos de dívida, moldado pela arquitetura financeira que perpetua a desigualdade e esvaziado de força normativa real. Seu foco na mobilização de recursos não altera as determinações estruturais da acumulação.
O Mapa do Caminho é um documento da tentativa de adaptação do capital à escassez planetária. Ele não rompe com a lógica que transforma natureza em ativo e tempo em rentabilidade. Tampouco confronta as estruturas de dominação norte-sul que sustentam a dívida ecológica. Está preso entre o cinismo dos que negam a crise e a ausência de alternativa prática por parte dos que querem superá-la radicalmente.
É possível que sirva, no curto prazo, para abrir espaço fiscal e canalizar recursos para projetos pontuais. Mas não haverá verdadeira transição se ela for mediada por um sistema que só reconhece valor quando pode extrair mais-valia. O colapso não será evitado por um roteiro de investimentos, mas por uma ruptura com a própria forma de reprodução social que nos trouxe até aqui. E essa ruptura ainda não foi mapeada.
A fragilidade do Mapa do Caminho não reside somente em suas lacunas técnicas ou em sua falta de obrigatoriedade. Suas limitações são mais profundas e estruturais, ancoradas nas próprias condições históricas e institucionais que o moldam. Há, pelo menos, quatro barreiras centrais que impedem que essa iniciativa se torne uma resposta efetiva ao colapso ambiental em curso.
A primeira barreira é a mediação pelo capital privado. A meta de US$ 1,3 trilhão por ano até 2035 depende, em larga medida, da disposição de investidores institucionais, bancos multilaterais e mercados de capitais para canalizarem recursos para ações climáticas. Isso implica que o financiamento da transição está subordinado à lógica do lucro, à rentabilidade dos projetos, à previsibilidade jurídica e ao retorno sobre o investimento. Não se trata de reconstruir o mundo, mas de transformá-lo em um portfólio atraente para fundos de pensão e bancos de investimento. O risco climático é internalizado não como imperativo ecológico, mas como variável financeira.
A segunda barreira é a reprodução da arquitetura da dívida. Apesar de reconhecer a necessidade de instrumentos “não endividados” e “concessões”, o Mapa do Caminho não rompe com o regime de endividamento estrutural dos países do Sul global. Os fluxos de financiamento continuam a ser condicionados por exigências de ajuste fiscal, garantias e metas de desempenho. O paradoxo é evidente: espera-se que países profundamente afetados por desastres climáticos e colapsos econômicos invistam pesadamente em mitigação e adaptação sem que lhes seja permitido escapar das amarras do serviço da dívida. A lógica da financeirização da crise continua intacta.
A terceira barreira é a inexistência de mecanismos vinculantes. O Mapa do Caminho é uma proposta, não um tratado. Ele não impõe obrigações jurídicas, não prevê sanções, não define responsabilidades proporcionais entre emissores históricos e países vulneráveis. É um roteiro voluntário, e como tal, depende da boa vontade dos atores que justamente têm mais a perder com a transição: os que lucram com a continuidade da matriz fóssil e da destruição ambiental. Isso significa que, mesmo que a meta de financiamento seja formalmente acordada, nada garante que os fluxos ocorram de forma contínua, equitativa ou eficaz.
A quarta barreira é de ordem mais profunda: o caráter estrutural da crise ecológica. O Mapa do Caminho pressupõe que a crise possa ser resolvida sem transformar as formas fundamentais de mediação social do capitalismo. Ele opera com a crença de que o mundo pode continuar sendo movido por crescimento econômico, inovação tecnológica e rentabilidade de mercado — somente com uma matriz energética mais limpa. Mas o problema não é somente o carbono, é o modo como o capital organiza a produção, o tempo, o espaço e a vida. Sem romper com a lógica do valor, da mercadoria e da concorrência generalizada, todas as transições serão superficiais, e os custos ecológicos serão somente deslocados.
Portanto, o Mapa do Caminho não é propriamente uma farsa, mas uma tentativa incompleta e contraditória de salvar um mundo em ruínas sem tocar na forma que o arruinou. Ele busca mobilizar recursos sem transformar o fundamento social da devastação. E assim, talvez consiga adiar sintomas, mas não evitar o colapso. A verdadeira transição energética não será comandada por fóruns financeiros, mas por uma ruptura histórica ainda por vir. Uma ruptura que coloque no centro não o investimento, mas a vida. Não o retorno, mas a regeneração. Não o mapa, mas o caminho que ainda precisa ser inventado.
Talvez o verdadeiro Mapa do Caminho ainda esteja por ser traçado :não como instrumento financeiro, mas como horizonte civilizatório. Um mapa que não mire a conversão do carbono em ativos, mas a reconexão entre humanidade e natureza fora das formas fetichistas da mercadoria, do trabalho abstrato e do dinheiro. Um mapa que reconheça a Terra não como estoque, mas como condição comum de existência. Para isso, será necessário romper com os vínculos estruturais que organizam o mundo como mercado, o tempo como produtividade, o espaço como fronteira de extração e a vida como recurso. Este outro caminho não será fruto de conferências, mas de insubmissões cotidianas, de reapropriações do tempo e do comum, de práticas sociais que escapem ao automatismo da valorização. Somente assim se poderá vislumbrar uma sociedade onde o valor não seja o centro, mas a vida:plural, concreta, irrepetível.
Mas mesmo esse novo mapa, por mais necessário que seja, não poderá apagar o que já foi feito. O mal está consumado. As espécies extintas não voltarão, os solos envenenados não se regeneram por decreto, os ciclos climáticos desfeitos não retornam à ordem anterior. A devastação imposta pelo capitalismo é, na maioria, irreparável. Não se trata mais de restaurar um equilíbrio perdido, mas de criar formas de vida viáveis num mundo transformado pela catástrofe. É neste terreno instável que a humanidade terá de reinventar-se e, talvez, a única saída esteja naquilo que o próprio capital sempre tentou sufocar: a criatividade coletiva, a solidariedade concreta, a recusa ativa à dominação e o cultivo de laços que não se medem em cifras. Não é, somente, tentar salvar o planeta, mas, sim, refazer o humano fora da lógica que quase o destruiu. O futuro, se houver, será obra da negação e da imaginação.